Há muito que tinha na minha lista a obra daquela que é unanimemente referida como figura incontornável do modernismo britânico, Virginia Woolf (1882-1941). Por isso li, há dias, para começar, Mrs Dalloway (1925), um romance verdadeiramente extraordinário, não pelo argumento (muitíssimo simples), não pela crítica lançada à época (expectável e previsível, dado o período entre guerras), nem mesmo pela descrição das personagens. Mas pela forma como Virginia Woolf estrutura o argumento, expõe a farsa vitoriana e esgrime o pulsar de cada personagem (mais do que os seus atos, as suas emoções, a sua alma), numa narrativa que, de acordo com os estudiosos, representa o recurso ao chamado fluxo de consciência, uma técnica que transporta para a escrita a complexidade do pensamento. E é desta matéria-prima que se faz Mrs Dalloway.
Do início ao fim, temos um fio condutor sempre no horizonte: a preparação de uma festa que Clarissa Dalloway, uma aristocrata britânica, dará na noite de um belo dia de junho e para a qual decide, logo de manhã, ir comprar flores a uma Londres repleta de imagens e impressões que lhe trazem de volta memórias do passado, encontros fatais, numa disputa com aquilo que a sua vida é no presente. É nesta deambulação por Londres que vemos alcançado o auge do fluxo de consciência, a capacidade inconfundível de Virginia Woolf para associar ideias, ora no discurso direto, ora no indireto, ora ainda no indireto livre. Vêm à sua cabeça, nesta espécie de peregrinação pelas ruas de Londres, recordações de um passado nem sempre resolvido e perceções psicológicas de um presente tolerado por conveniência social. Entre umas e outras, vão surgindo personagens a materializar e a elucidar as próprias escolhas de Clarissa Dalloway.
Desde logo Peter Walsh, chegado de uma Índia onde nem a distância apagou a paixão por Clarissa Dalloway. Septimus Warren Smith, mergulhado em amarguradas recordações de guerra. O próprio marido, Richard Dalloway, que lhe proporciona a posição na alta sociedade, confirmada no final da trama com a tangibilização da festa detalhadamente organizada. Também a sua filha, Elizabeth Dalloway, em permanente conflito com a empregada, Doris Kilman, e carregada de sonhos a disputar o legado da Era Vitoriana. Mas também Sally Seton, amiga de infância e no livro retratando a liberdade que nenhum outro personagem consegue assegurar.
Embora não raras vezes comparado com Ulisses, de James Joyce, dado o argumento balizado num único dia, Mrs Dalloway é visto pela própria autora como um romance nos antípodas daquele. Dada a depressões e com um suicídio a fazer terminar a sua biografia, Virginia Woolf deixa-nos uma obra determinante para a construção da literatura europeia e mundial da primeira metade do século XX. Inserida numa família da classe alta londrina, proprietária de uma proeminente biblioteca e com regulares rotinas culturais, Virginia Woolf cedo confraternizou com as mais ilustres figuras intelectuais da época, tendo vindo a fundar uma editora, a Hogarth Press, que revelou autores tão insignes como T.S. Eliot.
Volto a Mrs Dalloway para dizer que, neste mesmo momento, ainda consigo escutar as conversas dos convidados de Clarissa Dalloway na sua festa dada à sociedade inglesa, as várias flores (que comprou de manhã na sua saída à rua), a cortina amarela ao vento, as aparências medidas nas indumentárias e na forma eloquente de cumprimentar. Nos diferentes tempos do dia de junho que corre, parece que ainda ouço as badaladas do famigerado Big Ben, que baliza o tempo no romance e assinala, quiçá, a predisposição das personagens para se conhecerem melhor a si próprias, numa afirmação da vida, ou para fugirem de si, numa inevitável procura da morte.
É uma contradição feroz aquela em que Mrs Dalloway nos lança a nós leitores, que assumimos quase que irremediavelmente o papel de perscrutadores da condição humana, embora numa primeira aceção pareça que são “apenas” a multiplicidade e a complexidade da autora que ali estão. Afinal, este é um dos 100 melhores livros de língua inglesa apontados pela Time.

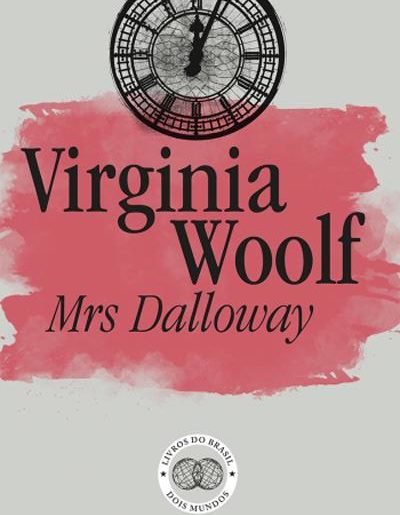



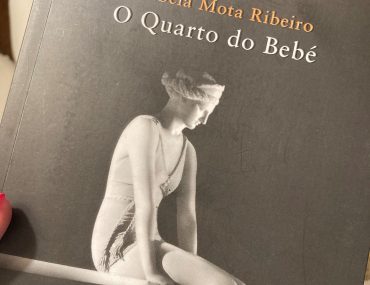


.