Pela terceira vez consecutiva, na transição para um novo ano, recapitulo os livros que li ao longo de todo o ano anterior. Os livros que li e a propósito dos quais creio poder, mais do que acrescentar valor, partilhar o sentido e o gosto pela leitura. É esse contágio que realmente importa.
Estreei minhas leituras, em 2017, com um pequenino livro de crónicas: Trinta e Oito e Meio, da brasileira Maria Ribeiro. Mesmo a calhar, porque nele lemos uma passagem carregada de lucidez: «Alguém já disse que um ano novo é outra chance de fazer tudo igual». Lembra Maria Ribeiro em Trinta e Oito e Meio. Talvez porque para fazer diferente não seja necessária a mudança de ano. Talvez possa ser aqui e agora. Não ser trinta, nem quarenta. Mas trinta e oito e meio. Falamos de um livro de crónicas, esse género tão apreciado no Brasil e tão desvalorizado por cá, no qual Maria Ribeiro retrata a capacidade de «(…) sair de si e começar de novo, e sempre, como uma boneca russa». Nas várias alusões que faz nas dezenas de crónicas, juntam-se referências culturais de todo o mundo. De Clarice Lispector, passa para Freud, Sinatra, Tom Jobim, Machado de Assis, Godot, Bauman, Almodóvar, Jorge Amado, Bergman, Nelson Rodrigues, Guimarães Rosa, Valter Hugo Mãe ou Matilde Campilho. Percorre vários nomes que constituem contextos culturais de cá e de lá do Atlântico. Percorre também vários nomes que estão acima dessa ponte aérea. Comuns a todos nós. E pelo meio fala da Zara, de Pokémons, do Google e do Índice Bovespa.
Li Conversas em Altos Voos – Encontros e entrevista com o Papa Francisco, de Aura Miguel, jornalista vaticanista. Neste livro, a autora dá-nos aquilo a que podíamos chamar dois takes: no primeiro relata-nos detalhes e peripécias ocorridas em pleno voo com o Papa Francisco e as comitivas de jornalistas que o têm vindo a acompanhar em todas as usas viagens; no segundo dá-nos a conhecer a entrevista de uma hora que fez ao Papa Francisco, na Casa Santa Marta, no Vaticano («mandada construir por João Paulo II a pensar nos Conclaves» e onde hoje vive o Papa Francisco), no dia 8 de setembro de 2015.
Também sobre o Papa Francisco, li em 2017 Papa Francisco A Revolução Imparável, dos jornalistas António Marujo e Joaquim Franco. O livro arranca com uma pergunta. «Ainda se poderá dizer alguma coisa de novo sobre o Papa Francisco?» A resposta é dada a cada palavra, linha, página. Ao longo de todo o livro, vamos descobrindo como o Papa Francisco é a concretização – todos os dias nova – de um conjunto de expectativas que estão hoje imbuídas neste mundo tão periclitante e sanguinário. Vamos descobrindo, afinal, como o Papa Francisco é ele próprio a concretização da nossa esperança. Seguramente, para crentes e não crentes. E neste ser esperança sobressai uma abordagem de revolução e desassossego e, simultaneamente, de escuta e reflexão. «Na era da velocidade, o Papa Francisco exprime uma proposta revolucionária que vai aos alicerces do Evangelho e aponta para a descoberta do concreto, dos afetos (…)». Evoca a recuperação de palavras como «com licença», «obrigado», «desculpa».
O ano que passou foi próspero na leitura de autores que nunca tinha lido. Já em 2016, com a notícia da morte de André Jorge, um dos editores de referência no panorama editorial português, descobri que o seu último autor publicado havia sido um brasileiro, Marcelo Mirisola, dono de uma linguagem completamente nova, um estilo mercurial mas fascinante, completamente atípico. Foi Marcelo Mirisola, pois, um dos autores que descobri em 2017 e, numa surpresa autêntica para mim, foi também um dos meus entrevistados, aqui, no Entre | Vistas. No seu livro Bangalô, que tive então oportunidade de ler, surge um narrador amarguradíssimo com a vida, zangado com a sociedade, furioso e distanciado do outro: «Uma vida inteira acreditei nesse treco de “amai-vos uns aos outros”. Não deu em nada. Agora, vou odiar». Há na sua linguagem mercurial uma repugnância tal em relação à classe média: «Eu disse que tô de saco cheio desta gente bem-resolvida e acovardada (da porra da “qualidade de vida” deste lugar), dos cafezinhos com pão de queijo, negócios próprios e velhos hippies de rabo-de-cavalo». A linguagem que Marcelo Mirisola usa é obscena e pode efetivamente deixar incomodados muitos leitores, mas é preciso ir mais longe na leitura e na interpretação da voz colérica do autor. Logo se verá que estamos perante uma obra de referência. Caso contrário, André Jorge não a teria trazido.
Também do Brasil, mas do revisitado século XIX, trouxe para o Entre | Vistas a minha primeira leitura de Machado de Assis, O Alienista. Um médico «filho da nobreza da terra», Simão Bacamarte, com formação académica certificada em Coimbra e em Pádua, regressa aos 34 anos ao Brasil, onde se instala numa pequena vila, Itaguaí, que vê pelas suas mãos nascer um famigerado manicómio, a Casa Verde. Por ordem de Simão Bacamarte, são internados nesse hospício dezenas e dezenas de cidadãos locais, a reboque da dedicação incansável à saúde da alma do carismático – e não menos controverso, a determinada altura – Dr. A crítica social e a análise psicológica são duas das principais características que o conto machadiano explora e que inauguram, na obra do autor, o estilo realista. Por meio de um narrador omnisciente, Machado de Assis permite ao leitor penetrar nas personagens e conhecer o que está para além das aparências. O Alienista retrata, assim, uma tentativa de identificação das fronteiras da normalidade e do seu contrário, relativizando e desconstruindo a objetividade (e, com ela, o obscurantismo) da própria prática científica.
Também de fora, de uma Inglaterra do primeiro quarto do século XX, foi aqui falado o tão famigerado Mrs Dalloway (1925), de Virginia Woolf (1882-1941). Do início ao fim, temos um fio condutor sempre no horizonte: a preparação de uma festa que Clarissa Dalloway, uma aristocrata britânica, dará na noite de um belo dia de junho e para a qual decide, logo de manhã, ir comprar flores a uma Londres repleta de imagens e impressões que lhe trazem de volta memórias do passado, encontros fatais, numa disputa com aquilo que a sua vida é no presente. É nesta deambulação por Londres que vemos alcançado o auge do fluxo de consciência, a capacidade inconfundível de Virginia Woolf para associar ideias, ora no discurso direto, ora no indireto, ora ainda no indireto livre. Vêm à sua cabeça, nesta espécie de peregrinação pelas ruas de Londres, recordações de um passado nem sempre resolvido e perceções psicológicas de um presente tolerado por conveniência social. Entre umas e outras, vão surgindo personagens a materializar e a elucidar as próprias escolhas de Clarissa Dalloway.
Entre os portugueses, que boa descoberta tive! Lídia Jorge. A sua escrita foi, para mim, uma das melhores surpresas. De Lídia Jorge, li em 2017 três livros: O Organista; Instruções para Voar; e O Amor em Lobito Bay. O Organista é uma fábula encantadora sobre a criação do Universo e a relação do homem com Deus e, até, sobre os caprichos de Deus em relação ao homem. Pelo meio, há um órgão e há música. É a génese de tudo a partir do nada, iniciando-se com uma frase verdadeiramente extraordinária: «(…) o vazio é um lugar onde não existe nada, mas no interior do qual se espera que venha a acontecer tudo». A romancista e contista portuguesa deixa-nos impetuosamente a digerir a definição de vazio logo na primeira frase. Instruções para Voar retrata as histórias de dois migrantes desconhecidos um do outro, Emil e Laura, que se cruzam numa espécie de não-lugar, ou seja, num lugar de ninguém, os arredores de um aeroporto, onde trocam argumentos acesos e arrebatadores para terem chegado àquele lugar/não-lugar. No horizonte da conversa, mantém-se incólume a figura maternal de cada um como elemento nevrálgico agregador do sentido dramático da narrativa, símbolo dos valores e das referências aparentemente perdidos. N’O Amor em Lobito Bay, estamos perante um conjunto de nove contos que, relevando contextos específicos de desencanto e desamparo, dão ao mesmo tempo lugar ao esclarecimento, à construção da memória e da identidade, à pacificação, à reconstrução do tempo e à possibilidade de começar de novo. O Amor em Lobito Bay consiste, a meu ver, numa fundamental recapitulação da esperança.
Em 2017, arrisquei-me na poesia. Na de Maria do Rosário Pedreira, que já tive o privilégio de entrevistar aqui. Entre um romance, duas séries de livros juvenis adaptados à televisão, letras dadas a canções de António Zambujo ou Aldina Duarte e as crónicas diárias no seu blogue que sigo, horas extraordinárias (http://horasextraordinarias.blogs.sapo.pt/), surgem a desconcertar os verdadeiros amantes de poesia três obras paradigmáticas da autora: A Casa e o Cheiro dos Livros (1996), O Canto do Vento nos Ciprestes (2001) e Nenhum Nome Depois (2004). E, quando parecia já dificílimo encontrar qualquer uma das três, eis que surge numa belíssima edição da Quetzal (setembro de 2012), a Poesia Reunida de Maria do Rosário Pedreira, com os três livros juntos e um bónus: um inédito, no final, a cicatrizar as feridas românticas dos anteriores, A Ideia do Fim. Todos são poemas de amor. Escritos por quem vem lembrar-nos, aliás, gritar-nos ao ouvido, que na relação amorosa persistem a transitoriedade e a itinerância e que, nestes livros, ambas vêm abonadas de uma visão romântica, feminista, mas antiquada, tão antiquada que chega a ser de uma sofreguidão greco-latina. A ler. Mesmo.
Num ápice, li também O Pequeno Caminho das Grandes Perguntas, de José Tolentino Mendonça. Há neste livro, como de resto em toda a apologia do Padre Tolentino Mendonça, um permanente equilíbrio entre o valor do silêncio e a força das palavras. Entre o valor da pergunta e a circunstância das respostas. «Há um momento em que percebemos que as perguntas nos deixam mais perto do sentido, da abertura do sentido, do que as respostas.» E prossegue caracterizando as perguntas mais preciosas: «(…) aquelas que em silêncio nos acompanham desde o princípio, aquelas que se confundem com o que somos (…)». Este livro é uma dessas perguntas.
Todos estes livros foram já abordados, ao longo do ano que passou, no Entre | Vistas. Mas li pelo menos mais dois sobre os quais não escrevi ainda: A Descoberta do Mundo, de Clarice Lispector, que sumariza de forma cronológica todas as crónicas publicadas pela escritora no Jornal do Brasil entre 1967 e 1973; e A Literatura é o Prolongamento da Infância, uma entrevista de José Jorge Letria a Lídia Jorge. A seu tempo, falarei também sobre eles.
Encontro-me neste momento com um livro que me leva de volta a um dos autores lidos em 2017: Marcelo Mirisola. Como se me Fumasse. Recentemente editado no Brasil e chegado direitinho das mãos do autor. Vamos ver os que se seguirão.
Para já, recuperemos George Steiner: «Nenhum lugar é aborrecido se me derem uma mesa, café e livros. Isso é uma pátria.» Que 2018 seja um ano de leituras – boas – para todos!





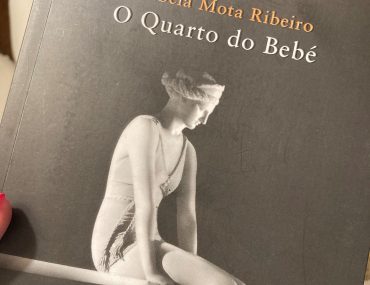


.