Em 2021, mantive o meu ritmo acelerado de leitura, sem condescendências. Foi, aliás, um dos anos em que mais li. É entre os títulos previamente selecionados e os que me aparecem inesperadamente nas mãos que construo a minha lista sempre dinâmica de leitura. Porque os livros, tenho essa convicção, também nos escolhem e há momentos para umas leituras e outros para outras. E é nessa imprevisibilidade que reside grande parte do mistério delicioso que é ler.
Entre 2020 e 2021, encontrava-me a ler Rezar de Olhos Abertos, de José Tolentino Mendonça. Para mim, continua a ser um livro de transição cronológica e interior. De conversão, de requalificação espiritual, de regresso a casa. José Tolentino Mendonça partilha, neste Rezar de Olhos Abertos, práticas de oração a partir dos seus próprios hábitos. E o discurso está, como é natural em Tolentino Mendonça, em cima do tempo. Vem para nos sacudir da dor e dos testemunhos de sofrimento e para nos reintroduzir na esperança. E, nesse caminho que a vida é, Tolentino Mendonça recorda-nos que a surpresa é a assinatura de Deus no tempo. Diz-nos, num parêntesis, mas recuperando o tema central do livro, que «a oração implica uma deslocação interior». E esta, ideia capital, será porventura a viagem fundamental que fazemos. E, para ela, assim como na vida, Tolentino Mendonça incentiva-nos a pedir caminhos, em vez de mapas. E a pedir, afinal, «um olhar que tenha realmente uma espessura de salvação». Absolutamente indispensável para um rezar de olhos abertos.
Numa das minhas incursões à Livraria da Travessa, trouxe os Três Contos, de Gustave Flaubert. À beira de uma crise nervosa, atalhada de uma enorme criatividade, o francês Flaubert lançou-se na escrita dos seus Três Contos, última obra que completou e uma referência incontornável na literatura francesa do século XIX. Três contos. Três épocas. A coligir, no primeiro, o próprio tempo do autor; no segundo, a Idade Média; e, no terceiro, o de Jesus Cristo. Ao longo dos três, Flaubert recupera figuras, paisagens e temas desde a sua juventude, o que no final das contas se repercute num périplo pela totalidade da obra. Assistimos, entre menções explícitas e outras que antecipamos ao seu background, à Normandia do seu nascimento, ao Oriente do seu fascínio, às gentes provincianas, à singularidade dos personagens, aos santos e aos medíocres. As atitudes bestas e bestiais, o real implacável e o ver além do tempo.
Não havendo um único ano que não me faça acompanhar de Clarice Lispector, em 2021, li Água Viva, um dos livros porventura mais irreverentes do Brasil do século XX, talvez até o mais irreverente do mundo. Como o foi a própria autora. Neste livro, Clarice não conta uma história, nele não há enredo, longe disso. Neste livro, Clarice encarna através da narradora uma figura artística que pinta e que por portas travessas envereda pela escrita e a partir da experiência da escrita faz um retrato filosófico da vida, ou seja, «uma tessitura de vida». Melhor: do instante da vida, sendo esse o seu tema primordial: «(…) a vida é esse instante incontável, maior que o acontecimento em si (…)». «Cada coisa tem um instante em que ela é». Muitas as tentativas de dizer quão impronunciável a vida é. Neste livro em que se escreve ao correr da pena, Clarice transfere para a sua narradora uma incumbência que sabemos ser sua, por autoimposição: «Meu cansaço vem muito porque sou pessoa extremamente ocupada: tomo conta do mundo». Mundo esse que sabemos existir, não sabemos é onde: «O real eu atinjo através do sonho. Eu te invento, realidade». É assim Clarice.
Entre os títulos brasileiros, e na poesia, descobri Câmera Lenta, de Marília Garcia. É o livro com o qual Marília Garcia, poeta, venceu o Prémio Oceanos 2018. Editado em Portugal, na coleção de poesia da Tinta-da-China, com coordenação de Pedro Mexia. Na exímia sinopse do coordenador, sabemos que havemos de conviver com «mecanismos interrogativos» e «manifestações de espanto sofisticado». Na conversa que fazem connosco, os poemas de Marília Garcia, e insisto na descrição notável de Pedro Mexia, «contam coisas, descrevem coisas, desmontam coisas (máquinas, viagens, conversas, enganos geográficos, festivais de poesia), como se toda a narração fosse uma desconstrução». Os poemas de Marília Garcia são autênticas histórias. Damos por nós a ouvir, precisamente, uma história que nos é contada ao ouvido. Pedro Mexia refere: «E usam truques, loops, mudanças de velocidade, deslocamentos linguísticos, materiais diversos». Estamos perante poemas que aceleram e desaceleram, param e avançam, dialogam, interpelam, voam e fazem voar.
Mantive-me na poesia ao descobrir a canadiana Anne Carson, com o seu livro A beleza do marido, publicado pela não (edições), a única editora em Portugal com títulos da autora, um dos nomes mais apontados entre as previsões para o Nobel. Nesta coletânea de 29 poemas, que formam 29 tangos, assistimos a um tratado sobre a beleza, materializado no retrato de um marido e talhado a partir das noções interpretativas da verdade e da beleza de John Keats (1795-1821). Numa alternância entre «versos elegíacos» e a distância necessária para contar e expor, Anne Carson parece fazer neste livro um exercício de compreensão, senão correção, do passado. N’ A beleza do marido, não obstante colocar-se na posição de questionar, ou precisamente por isso, Anne Carson esbarra de frente com a resposta: «(…) o que é bom para isso é o tango». Porque talvez seja uma dança a vida.
Curiosa por voltar a um dos mais originais e multifacetados escritores portugueses, Afonso Cruz, li também O Vício dos Livros, que consolida a ideia de que a natureza da leitura não se compadece com a agregação de multidões, ainda que tenha impacto no pensamento coletivo. A leitura de um livro é uma experiência única e individual, mas carregada de memórias, de histórias, de outras vidas que, caso nelas nos consigamos rever ou mesmo que isso não aconteça, vão moldando o que somos. E o que Afonso Cruz faz, neste livro O vício dos livros, é uma recolha das próprias reflexões e curiosidades literárias, combinadas com o conhecimento consolidado de relatos históricos e histórias à volta dos livros. Não nos culpemos pelas nossas «pilhas de livros por ler». Afonso Cruz refere-se a elas como «uma possibilidade de ser livre». Neste ponto, Afonso Cruz recupera inclusive uma passagem de Jules Renard nas suas Notas Sobre El Oficio de Escribir: «Quando penso em todos os livros que tenho para ler, tenho a certeza de ainda ser feliz».
Num outro registo, li A Angústia da Influência, de Harold Bloom, um dos mais controversos e influentes críticos literários. Nesta obra determinante de 1973, assistimos a um retrato das referências que pululam no pensamento e na atividade literária de vários dos autores incontornáveis e que contribuíram para a forma como na contemporaneidade pensamos a literatura. E à medida que avançamos na leitura vai-se tornando evidente o ponto de análise incontornável a partir do qual Harold Bloom desconstrói a influência sobre o pensamento literário comum: William Shakespeare. «Shakespeare influenciou o mundo muito mais do que o mundo começou por influenciar Shakespeare». Harold Bloom descreve Shakespeare como um cânone mundial (não apenas ocidental), com a angústia que isso possa causar. Neste belíssimo ensaio, por vezes difícil, intrincado, somos levados a refletir sobre como os escritores contribuem para formar outros escritores. Sobre como o pensamento se faz de um pensamento coletivo, secular, maior do que nós. Para se organizar numa obra, num poema, num texto que carrega passado, presente e futuro.
No belíssimo ensaio (ou o que possamos melhor chamar-lhe) As Pequenas Virtudes, da italiana Natalia Ginzburg, temos um encontro feliz com as palavras. «O meu ofício é o de escrever e eu sei-o bem e há muito tempo», diz-nos Natalia Ginzburg referindo-se à sua profissão de uma vida e que aos leitores de hoje continua a beneficiar. Na introdução de Rachel Cusk, somos lembrados de que estamos perante ensaios com «mais de cinquenta anos» que «soam como se tivessem sido (…) acabados de compor». Ainda que escritos entre 1944 e 1962, não há um tempo específico para a natureza absolutamente familiar e próxima que cada um dos escritos carrega, tornando-se um sopro ao nosso ouvido sobre a nossa própria pessoa, a nossa família, a nossa vida. É a literatura a ser literatura. A assumir o seu papel ancestral e imemorial de nos dizer aquilo que sempre pensámos e que nunca conseguimos verbalizar daquela maneira ou com aquela clareza e intrepidez. A partir do título, As Pequenas Virtudes, é feita na verdade uma apologia das grandes virtudes. Como a autora nos descreve quando se refere à própria escrita, neste livro assistimos a uma coletânea de «contos enxutos e claros, bem conduzidos do princípio ao fim, sem tropeçar, sem sair do tom». E nessa alternância entre as pequenas e as grandes virtudes, Natalia Ginzburg leva-nos pela mão até às nossas virtudes, para uma conversa sem rodeios sobe o que verdadeiramente somos.
E a propósito do que somos, do que seremos, do que fomos, tive este ano mais uma leitura imperdível: Almoço de Domingo, de José Luís Peixoto. Neste almoço em que a família Nabeiro se junta, num domingo que não é mais um domingo, são celebrados os 90 anos de Rui Nabeiro, figura incontornável no país e no mundo por ser antes e em primeiro lugar um homem irrepetível em Campo Maior. Quando um dia assistiu a uma entrevista dada pelo escritor José Luís Peixoto, Rui Nabeiro entendeu ser esse o autor certo a quem pedir que escrevesse sobre si a história de uma vida. Ver chegar os 90 anos pressupõe, provavelmente, saber olhar para trás e revisitar memórias para um legado arrumado para o futuro que vem. José Luís Peixoto acedeu ao desafio com uma contraproposta: uma biografia romanceada. É assim que nos chega às mãos este livro que se lê de fio a pavio. Ficamos com a perceção do que pode uma vida de 90 anos acrescentar à noção de tempo. «Quando acumulamos suficiente tempo, os domingos transformam-se num período da vida. Recordamos os domingos como uma unidade». E, também por isso, porventura, o domingo em que são celebrados os 90 anos de Rui Nabeiro tenha chegado como um marco simbólico da importância de ser domingo. Tiritando entre as fronteiras que separam a realidade recordada e a ficção, assistimos a um homem com visão, humildade e valores inegociáveis. «Se vendermos o tudo, não há quantia que nos sirva, não teremos uso para lhe dar». Consolidamos, com esta história, que por «haver lições que só se aprendem depois de uma vida inteira», este livro tinha mesmo de ser escrito. E que mesmo «depois de uma vida inteira» há tempo à frente.
E se há de facto sempre tempo à frente é porque houve tempo antes. No livro de fotografia Timor-Leste do Paraíso, da autoria de Isabel Nolasco, é essa experiência dada pelo tempo e, em bom rigor, pelo espaço, que ganhamos. Corria o quente mês de junho de 2011 quando aterrei pela primeira vez em Díli, levada pela mão e o olhar de Isabel Nolasco, fotógrafa reconhecida «com uma visão de base documental e humanista». Dos quase 10 anos em que viveu em Timor-Leste, para cumprir diferentes missões profissionais que conciliou com a paixão pela fotografia, Isabel Nolasco apurou o olho na objetiva da câmara, beneficiada pela matéria-prima do lugar onde – sejamos unânimes com a opinião de José Ramos-Horta – Deus mora. Nesses 10 anos, Isabel Nolasco juntou um acervo fotográfico único agora apresentado no livro Timor-Leste Do Paraíso | Husi Paraízu, da Poética Grupo Editorial, que havia já publicado o seu primeiro livro Latitudes da Semelhança. Nesta sua segunda obra, simultaneamente em português e tétum, assistimos a um «tributo às paisagens e às pessoas nos seus respetivos contextos e cultura». E embora em Timor-Leste encontremos algumas das paisagens mais bonitas do mundo, dignas do postal ilustrado, o que Isabel Nolasco aqui retrata não são os pontos mais icónicos e turísticos que repetidamente vemos. O que a sua lente fotográfica nos traz são fragmentos do tempo e dos espaços em que viveu e pelos quais passou na intenção de registar para além da fragilidade ou da frugalidade. Antes a alma, a personalidade imagética forte, a abnegação, a determinação de um povo que se fez independente contra muitas vontades, as «suas lutas e dificuldades no cumprimento dos dias». O que Isabel Nolasco nos dá, neste seu segundo livro, é um retrato da esperança, da generosidade, da amizade e da tolerância do povo que a acolheu em casa.
E a lembrar-nos que há vários outros lugares que não a casa, chegaram-me às mãos as Cartografias de Lugares mal Situados. É o mais recente livro de Ana Margarida de Carvalho, coligindo 10 contos vigorosos que nos convocam para ambientes de guerra, os quais, por definição, são de facto lugares mal situados. E nesses lugares mal situados permanece não raras vezes intacta uma rotina intensificada de emoções, recalcamentos, gritos, suores e lágrimas. Ao mesmo tempo, com o próprio tempo a mostrar-se implacável na sua indestrutível fluidez, nestes contos há uma certa sugestão de normalidade em coabitação com a guerra. Um continuar que se vê desde logo nas esparsas referências a livros e autores, mesmo que não sirvam ali para ler. Mesmo que não sirvam para nada. Nesta sua coletânea de livros, Ana Margarida de Carvalho percorre vários lugares do espaço e do tempo, em povoações invadidas por tropas estrangeiras, operações da resistência, bibliotecas intervencionadas, mulheres cercadas, o silêncio sepulcral da despedida dos que partem em missão frente aos que ficam e o do momento seguinte às derrocadas, a inflexibilidade dos tiros, a crueldade da morte. Através da canção de Caetano Veloso, “Cajuína”, é lançada a pergunta porventura subjacente a todos os contos: «Existirmos: a que será que se destina?».
Ao longo de grande parte do ano, mantive-me ligada ao livro 100 Entradas para um Mundo Melhor, de Vítor Feytor Pinto, que este ano nos deixou. A ideia partiu de Maria João Avillez. E ainda bem. No seu Prefácio, referindo-se ao saudoso Padre Feytor Pinto, escreve: «Ouvir o meu pároco interpela-me e simultaneamente responsabiliza-me – e que posso dizer de mais “definitivo” que isto?». E ao ouvi-lo com esta atitude, Maria João Avillez entendeu que as suas homilias mais relevantes poderiam ser reunidas num livro. O Padre Feytor Pinto concordou e desse acordo surgiu esta belíssima publicação. Para além da obra social e religiosa que nos deixou, o Padre Feytor Pinto reservou-nos um legado de valores, conhecimentos e práticas que nos servirão para a vida toda e que aqui estão sumarizados.
Dizer, por fim, que 2021 foi o ano em que li mais poesia. Para além da brasileira Marília Garcia e da canadiana Anne Carson, de que falei atrás, fiz este ano retratos em vídeo, com leitura de poemas, do Regresso a Casa, de José Luís Peixoto, d’A Terra Santa, de Alda Merini, de Estar em Casa, de Adília Lopes, de Adília Lopes Lopes, de Filipa Leal, de Versos, de Amália Rodrigues, e de Poemas, de Hannah Arendt. Levo no ouvido, em eco, para 2022, as vozes de todos eles.
Ficaram por retratar, aqui, quatro outros livros que li em 2021 e cuja síntese farei para o ano: Morreste-me, de José Luís Peixoto, Quando eu era fotógrafo, de Félix Nadar, Ficheiros Secretos, de Luís Osório, e Vidro, Ironia e Deus, de Anne Carson. Que venha a lista de 2022.





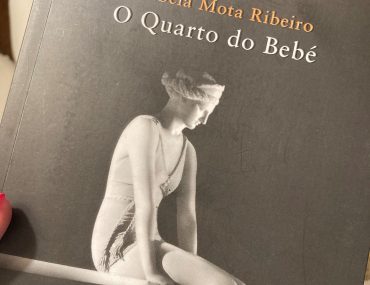


.