Afonso Cruz
AAfonso Cruz é o autor de que se fala em todos os momentos literários. Entre as múltiplas apresentações do seu recentíssimo título, Flores (2015), providenciou mais de uma hora do seu tempo para falar ao Entre Vistas. Lá estava, à hora combinada, no Príncipe Real, com o talento e a cultura na bagagem das respostas articuladas e refletidas, desguarnecidas de lugares comuns, como de resto o são os seus livros. Se há um universo para o qual nunca fomos transportados, é para lá que Afonso Cruz nos leva. Para além das palavras, que domina, Afonso Cruz estreou-se vindo das artes na realização de filmes de animação, evoluiu para a ilustração e, testando um olhar aparentemente pouco talhado para o solfejo, aprendeu a ler música e toca hoje mais do que um instrumento, integrando a banda The Soaked Lamb. Afonso Cruz nasceu na Figueira da Foz, em 1971. Frequentou a Faculdade de Belas-Artes de Lisboa e o Instituto Superior de Artes Plásticas da Madeira e, atualmente, reside em Sousel, no distrito de Portalegre, zona do Alentejo pela qual trocou Lisboa e onde produz a cerveja que bebe. Pelo mundo andou mais de uma década da sua vida, contando entre os destinos cumpridos mais de 60 países. Nestes últimos anos, é à escrita que tem dedicado mais tempo. Publicou o seu primeiro romance, A Carne de Deus – Aventuras de Conrado Fortes e Lola Benites, em 2008. Com este e outros títulos, como Enciclopédia da Estória Universal (2009), A Boneca de Kokoschka (2010), Os Livros Que Devoraram o Meu Pai (2011), A Contradição Humana (2011), Jesus Cristo Bebia Cerveja (2012) e Para Onde Vão os Guarda-Chuvas (2013), foi acumulando prémios de prestígio que elevam a literatura portuguesa no país e no mundo. Em 2013, foi eleito pelo semanário Expresso um dos 40 talentos que vão dar que falar no futuro. E é esse futuro que já aí está. Agora. Neste momento.
É escritor, músico, cineasta e ilustrador. Que peso/importância tem cada uma destas artes na sua identidade artística? Em qual das artes se revê mais?
Ultimamente, passo muito mais tempo a escrever do que a fazer qualquer outra coisa. Portanto, um pouco pelo tempo e a disponibilidade – menores – que tenho tido para as outras áreas, a escrita acabou por se assumir como a área principal da minha vida. Mas não posso dizer que gosto mais de escrever do que tocar ou desenhar. Escrever é aquilo que agora faço mais e, por isso, a escrita acaba por ter um peso diferente. Mas não é hierarquizável…
Cada uma tem a sua importância…
Sim. São coisas, realmente, muito diferentes. Tocam-nos de maneiras diferentes. Fazem-nos coisas diferentes. A música tem esse poder muito imediato e físico de nos mudar o humor, faz-nos dançar… E mesmo quando estou a escrever, interrompo com frequência para pegar na guitarra, por exemplo.
Escreve a ouvir música?
Não, não, não. Escrevo, normalmente, em silêncio.
É preciso ter uma concentração especial para escrever?
Devia ser, mas eu escrevo em qualquer lado [sorriso]. Trata-se de um exercício relativamente criativo e as ideias podem surgir a qualquer momento. O iPad [onde escreveu o último livro publicado, Flores] tem a vantagem de ser muito imediato. Se me surgir uma ideia qualquer para um episódio ou uma parte de um capítulo, pego no iPad e escrevo imediatamente.
Não tem consigo o típico bloco de notas?
Inicialmente, andava sempre com blocos. Mesmo muito antes de pensar em escrever. Viajava e andava sempre com uns blocos que depois fui afinando. Fui percebendo qual era o tipo de bloco que realmente gostava. Na verdade, andava com uns blocos pretos que se vendiam na Papelaria Fernandes, com capa mole e agrafos. Cabiam no bolso, dava para me sentar em cima deles… Usava-os um pouco como se usa uma máquina fotográfica, na verdade. Para anotar coisas que via e ouvia, conversas que tinha com alguém. Na altura, não pensava ainda que dali pudessem surgir argumentos para escrever, mas criei assim o hábito de ir anotando coisas…
A sua família paterna tem, pelo que li, uma enorme influência na sua vida. O seu avô paterno, por exemplo, foi fotógrafo. Começa aí o seu background artístico?
Não faço ideia! Em relação à família do meu avô… Eles eram quatro irmãos e tinham todos características muito diferentes, que me marcaram muito. Fui educado pelo meu avô e, por isso, passei alguns anos da minha vida com os irmãos dele. Todos eles eram pessoas muito carismáticas, tinham a sua maneira diferente de ver o mundo. O meu avô era, de facto, fotógrafo. Tinha um estúdio e uma loja de fotografia, começou a trabalhar muito cedo nesta área, aos 12 anos. Ele vinha de uma família que fez fortuna e ganhou muito dinheiro a determinada altura, mas que perdeu tudo com uma série de especuladores à volta, enfim. Eles ficaram, de repente, sem absolutamente nada. O meu avô, então, teve de começar a trabalhar. Escolheu a fotografia e, até morrer, foi o que ele fez. Foi um fotógrafo com capacidade para várias vertentes. Fazia fotografias artísticas, de casamentos (quer dizer, de casamentos não sei!), fotografias tipo passe… Os outros irmãos tiveram também percursos curiosos. Um dos meus tios viveu sempre sozinho, solteiro, num quarto alugado. Era muito talentoso, desenhava muito bem… Eu era miúdo e aquilo influenciava-me imenso. Ele pegava numa folha de papel e esboçava uma figura qualquer – aquilo que queria – a recortar, sem desenhar. Era também um bom violinista e um bom guitarrista.
É a explicação para a sua queda para o desenho e para a música?
Muitas vezes, na família, diziam que eu saía a ele. Mas a verdade é que estava com ele com menos frequência do que estava com o meu avô. Outro irmão do meu avô começou por ser jogador de futebol – não era mau, chegou a jogar no Sporting [Clube de Portugal] –, mas como essa atividade não dava dinheiro, na altura, tornou-se inspetor de casinos. O outro irmão, por fim, foi um pioneiro da aviação. Fez, na década de 1930, as primeiras viagens aéreas à maior parte das colónias portuguesas em África e às colónias portugueses no oriente, Timor-Leste e Goa. Em termos políticos era também muito diferente do meu avô, chegou a ser preso algumas vezes… Tinham, entre todos, muitas discussões, mas eram irmãos e acabavam sempre por fazer as pazes. Era, de facto, uma família muito sui generis, que me deu um bom ambiente e um background cultural muito interessante. O meu pai também gostava muito de ler… Eu sempre tive acesso a livros, é uma coisa que sempre fez parte da minha vida. Não tenho irmãos e os livros eram os meus irmãos [gargalhada]!
Uma das coisas que as viagens nos dão é a descoberta de coisas novas, coisas que não fazem parte do nosso quotidiano e, claro, acabamos por nos deparar com exemplos de vivências ou modelos sociais que não estaríamos à espera – religiões, filosofias, etc. – e, de repente, queremos saber mais sobre isso. E uma das vias são os livros.
Em 1991, começou a trabalhar regularmente em cinema de animação. Mas para ganhar dinheiro para viajar, certo?
Na verdade, comecei a trabalhar para comprar uma mota. Mas não só não cheguei a comprar a mota, como não tirei sequer carta de condução de mota. Bem, mas esse foi o motivo pelo qual comecei a trabalhar. O primeiro trabalho que me surgiu foi na área das Belas Artes, comecei entretanto a gostar de cinema de animação… Conheci então uma pessoa que ia fazer uma viagem pela América do Sul – isto, na altura, era relativamente raro – e eu achei aquilo de uma coragem muito grande. Quando ele me disse que ia fazer aquela viagem, sozinho, achei que nunca seria capaz de fazer uma coisa daquelas, pegar num avião à aventura para a América do Sul! Passado um ano, estava eu a fazer o mesmo, sozinho. Tinha um pouco a ver com as minhas leituras, os livros que lia, tinha a necessidade de corroborar algumas coisas com outro tipo de experiências. No fundo, tive de experimentar o outro lado dos livros. Muitas vezes, as pessoas acham que a experiência de um livro não tem nada a ver com a experiência real. Mas é por si uma experiência, não podemos dizer que não faz parte da nossa vida ou que não é real.
A literatura é, aliás, uma das explicações mais capazes para a condição humana…
Sem dúvida. Os livros serviam-me de móbil para as viagens. Outras vezes, era o contrário: depois de viajar, ficava entusiasmado e voltava a determinadas leituras ou iniciava imediatamente outras. Uma das coisas que as viagens nos dão é a descoberta de coisas novas, coisas que não fazem parte do nosso quotidiano e, claro, acabamos por nos deparar com exemplos de vivências ou modelos sociais que não estaríamos à espera – religiões, filosofias, etc. – e, de repente, queremos saber mais sobre isso. E uma das vias são os livros.
A busca de uma perpétua felicidade é inerentemente humana e transversal a todas as sociedades. Há é maneiras diferentes de a procurar e de a viver. Mas não me parece que um índio seja mais ou menos feliz do que nós. Apesar de nós, claro, sermos completamente insatisfeitos.
Como descreve o Afonso Cruz viajante? Não parece ser apenas um observador…
Nas minhas viagens, eu não estava nunca menos de um mês. Gostava de andar nos transportes públicos, de andar a pé e de perceber mais ou menos como é que as pessoas viviam… Nunca fiquei num hotel bom, dormi na rua, dormi em pensões terríveis, não só porque tinha pouco dinheiro, mas também porque assim obrigava-me a um contacto e a uma ligação com o povo muito mais reais, por contraponto com o resort ou o hotel fantástico que há igual em qualquer parte do mundo. No Brasil, por exemplo, estive no Estado da Baía, mas nunca fui lá à praia. Conheço melhor o interior do que o litoral do Brasil. No interior, há uma relação mais humana. Ninguém nos vê ali como uma carteira a andar. Num sítio eminentemente turístico, nós acabamos sempre por ser o brinde cheio de dólares. No interior, quando nos abordam, não estão interessados no nosso dinheiro, querem é saber de onde viemos, o que estamos ali a fazer, o que desejamos. Há uma proximidade mais fácil, que acontece de uma maneira mais natural e genuína. E, depois, atenção, quando saímos dos lugares turísticos, as coisas são muito mais baratas e é por isso possível permanecer muito mais tempo, sem gastar muito dinheiro.
Já passou por mais de 60 países. Que povo/cultura é que o impressionou mais?
Não é fácil responder a essa pergunta, porque os momentos em que viajamos são diferentes, têm exigências diferentes. Mas posso dizer que gostei muito de viajar no Brasil, por vários motivos. Primeiro, pela língua. Por outro lado, no Brasil pude ter contacto com índios e os homens sem acessórios, sem tecnologias era uma coisa que me fascinava imenso. Aliás, nós não nos imaginamos a viver sem isso. E ali eu estava em contacto com o homem como ele era há cem mil anos… E isso era fascinante, ter esse contacto com o ser humano na sua essência.
E nós somos de facto muito diferentes desse estádio quase original, não industrializado…
Acima de tudo, há uma diferença muito grande entre as sociedades nómadas e as sedentárias. Numa sociedade sedentária, pensamos em acumular. É esse o nosso desejo e o nosso móbil principal para viver, porque estamos no mesmo sítio e, estando no mesmo sítio, tudo é baseado na acumulação de coisas que nos permitam a nossa vivência no lugar de permanência onde sempre estamos. Na sociedade sedentária, começam por aparecer os celeiros para guardar as coisas, aparece a propriedade privada, aparecem as chaves para guardar essas coisas que acumulamos, os assaltos, o exército, a polícia, as prisões, todas essas coisas típicas da sociedade que tão bem conhecemos. Ao contrário, um nómada anda de um lado para o outro e não acumula. Vai antes apanhando as coisas à medida das suas necessidades imediatas. Um nómada não tem noção do trabalho alienado, das 9h às 5h. Foca-se em atividades pontuais, como apertar um parafuso, apanhar um fruto… Esta sociedade é mesmo muito diferente.
Sentiu que as pessoas podem ser de alguma forma mais felizes numa sociedade nómada?
Acho que não. A nossa felicidade depende daquilo que temos. Eu estou alegre e para o sentir em pleno tenho de ter um outro momento de melancolia, desassossego ou vazio, para perceber a diferença. Eu creio que esta medida é igual em todas as sociedades. A busca de uma perpétua felicidade é inerentemente humana e transversal a todas as sociedades. Há é maneiras diferentes de a procurar e de a viver. Mas não me parece que um índio seja mais ou menos feliz do que nós. Apesar de nós, claro, sermos completamente insatisfeitos. Se vivemos numa cidade, pensamos que gostaríamos muito de viver no campo. Quando mudamos para o campo, temos esse momento de alegria por termos conquistado esse desejo e, depois, começa a esmorecer. A partir do momento da conquista, vem um momento de habituação, de rotina e em que a coisa já não nos toca da mesma maneira e aí surgem outros tipos de felicidade, outros desassossegos para nos preenchermos. E isso, claro, é igual em todas as sociedades.
Acaba de lançar um novo livro, Flores (2015), que retrata a importância da memória, do amor, da instalação de rotinas na nossa vida, a banalização das desgraças… Este livro parece um ultimato sobre a urgência de saber viver. Que ensinamentos pretende passar aos seus leitores?
Eu não tenho a presunção de ensinar nada. Mas deteto coisas, episódios e circunstâncias do nosso quotidiano que acho que podem ser melhoradas ou que nós podemos apontá-las e por serem reconhecidas possam criar interrogações e mudanças. Nós vivemos numa sociedade em que algumas pessoas têm algum conforto, sobretudo a classe média, apesar de todos os problemas que esta crise trouxe e acentuou. Mas vivemos um pouco com este conforto e temos pouca urgência em agir e em nos revoltarmos contra determinadas coisas e, ainda, em estarmos no lugar das pessoas que não têm esse conforto. É muito difícil sair do nosso sofá para lutar por causas que não são na verdade as nossas. Se somos mais informados, se calhar seríamos as pessoas com mais capacidade para a mudança, mas não somos capazes de o fazer, muitas vezes, por inércia. Estamos habituados à nossa vida, não temos essa urgência para agir. E daí vem a banalização das tragédias, da injustiça. Morrem mil pessoas juntas e isso é uma notícia. Mas estão constantemente a morrer pessoas à fome. Mais do que morrem naquele acidente que envolveu quatro ou cinco mil pessoas. Mas nós não nos escandalizamos com a fome, escandalizamo-nos sim quando morrem muitas pessoas juntas. Há muito pouco tempo li um livro do Perec em que ele diz que não é com o facto de terem morrido não sei quantas pessoas nas minas que nós nos devemos escandalizar, mas com o trabalho nas minas. Ou seja, há pessoas que vivem mesmo muito mal a vida toda e nós não ligamos. E depois há um conjunto de pessoas que morrem e aí sim escandalizamo-nos. Todas as notícias são importantes e devem servir de alarme, mas também devemos ter a consciência daquilo que acontece sempre e não apenas pelo fator mediático. E depois há a questão da proximidade… Se morrerem não sei quantas pessoas em África é diferente se morrerem o mesmo número de pessoas na Europa. Há um afastamento emocional em relação à vida humana, que não devia existir. Especialmente, hoje em dia, em que as coisas são tão globais.
A propósito desta nova publicação, fale-me um pouco sobre a importância da memória, materializada no personagem Ulme…
O senhor Ulme tem uma doença inicial, um aneurisma e, depois, tem uma doença degenerativa que afeta as funções motoras do corpo. Mas em relação à memória… A memória é essencial para nós. Há muitas teorias, na medida em que é uma das coisas mais difíceis de explicar. Santo Agostinho dizia que se nós percebêssemos o tempo, percebíamos tudo. Efetivamente, até a filosofia se divide: uma vertente diz que só existe o presente e outra diz que só existe o passado. O futuro é uma expectativa, uma esperança. Portanto, tudo o que fazemos será memória um dia. Acima de tudo, acreditamos que a memória é formadora da nossa identidade e, de facto, em certa medida, uma boa parte da nossa identidade é a memória. Ainda assim, uma pessoa que perde a memória continua a ter a noção do eu, a sua identidade, o seu feitio, o seu caráter. Há aquele caso clássico de que o [António] Damásio fala sobre um homem a quem uma barra atravessa a cabeça e ele passa a portar-se de maneira completamente diferente. No entanto, apesar de mudar, continua a ser ele. Nós podemos mudar quase tudo, o nosso corpo todo, a nossa maneira de estar, e continuamos a ser nós de uma forma quase inexplicável. Para o budismo, por exemplo, há essa interrogação. O que é o eu? É ou não uma ilusão? Um músico que também me serviu de inspiração para o aneurisma do senhor Ulme, Pat Martino, teve um aneurisma e quando acordou não sabia tocar guitarra. Ele era um músico genial, um guitarrista e, após o aneurisma, voltou a aprender a tocar ouvindo os próprios discos. Aprendeu consigo, o que também é muito bonito, ou seja, é um autoconhecimento, um aprender olhando para dentro. A memória tem esta faculdade que nós consideramos construtora e identitária, mas na realidade podemos perdê-la e continuar com a nossa identidade e a nossa noção de eu intacta. Mas a nossa identidade, claro, é muito formada pela rotina e a repetição das mesmas atividades. Nós identificamo-nos exatamente por essa repetição. Ou seja, eu sou um arquiteto se trabalhar em arquitetura. Eu sou um idiota, porque me porto muitas vezes como um idiota. É assim que me torno um idiota. Eu sou inteligente, porque atuo muitas vezes de forma inteligente. Nesse sentido, a rotina é parte fundamental da criação da identidade. Curiosamente, existem muito poucas coisas que nós só fazemos uma vez na vida e nos marcam para o resto da vida. Uma delas é matar uma pessoa. Eu posso nunca mais matar, mas serei sempre um assassino. É uma condição que já não conseguem tirar-me. Se não repetirmos o comportamento, podemos deixar de ser quase tudo. A matar é que não… E não deixa de ser curioso que alguém que tira uma vida humana fique com esse estigma para sempre…
O amor, no sentido lato, é a grande força do universo.
O amor é outro dos temas fortes do livro Flores. Tem uma visão pessimista do amor?
Muito pelo contrário! O amor, no sentido lato, é a grande força do universo. Sendo o ódio maior, porque o universo está em expansão, a desagregar coisas… Separar é uma forma de ódio. E a vida é exatamente o oposto. Nós juntamos células, órgãos e isso é uma manifestação de amor, ainda que lata. Mas é também isto que define a vida: enquanto as minhas células se mantiverem unidas e “amiguinhas” eu continuo vivo. O amor, nesse sentido lato, consiste nisso que nos aproxima dos outros. E a nossa identidade e a nossa memória são também muito alimentadas pelos outros. A perspetiva que eu tenho de mim é muito diferente da maneira como as pessoas me veem. E mesmo a minha própria memória muda ao longo dos anos, eu vou alterando os factos, vou-me apropriando de histórias de outras pessoas e acredito piamente que são minhas… A memória não é um conjunto de factos, é uma construção muito nossa. E, claro, cada pessoa à nossa volta tem a sua própria interpretação, a sua maneira de olhar para nós.
E esse é um tema que acaba por tratar no livro Flores através da importância dada ao espelho…
Exatamente. Nós criamos muita ficção. Somos ficcionistas da nossa própria vida. Mas, por outro lado, sabemos que uma pessoa que gosta de nós vai focar-se nas coisas boas e descreve-nos como uma pessoa boa. E o inverso também é válido, mesmo que esteja a descrever a mesma ação. A mesma ação, para uma pessoa, pode ser um ato de maldade e, para outra que gosta de nós, é um ato de bondade. Se eu der um emprego a alguém, é um ato de bondade para essa pessoa. Mas para a pessoa a quem eu nego o emprego, é um ato de injustiça e maldade. Portanto, a mesma ação pode ter duas visões perfeitamente opostas. Há uma história de que eu gosto muito, sobre um rabbi, Nachman de Breslov, que tem uma espécie de parábola sobre a maneira de nos focarmos na vida, nas pessoas… Diz que se eu tiver uma mulher muito bonita com uma pequena verruga no nariz, à medida que eu a vou conhecendo vou-me concentrando mais na verruga, a verruga vai ficando cada vez maior e às tantas não se vê mais nada, senão aquela verruga. Então ela passa a ser uma verruga enorme. Na verdade, com esta parábola, ele quer levar as pessoas a fazerem o processo oposto. Mesmo que uma pessoa seja uma enorme verruga, ela há de ter um pequeno pontinho de beleza lá no meio. Enfim, quando olhamos para as pessoas também é um pouco assim. Ou quando estamos apaixonados, aqueles pequenos trejeitos, maneirismos, etc., as coisas mais maravilhosas e mais mágicas que encontramos na outra pessoa, quando nos habituamos a elas passam a ser as coisas mais irritantes ou, até, indiferentes. Mas o processo oposto também é verdade. Por vezes, encontramos uma pessoa de que não gostamos muito e, à medida que a vamos conhecendo, vão transparecendo outras características que nos vão seduzindo de alguma maneira. Mas isso tem a ver com o conhecimento que temos da pessoa, que pode atuar como um vetor que nos leva por um caminho positivo ou negativo.
Para Onde Vão os Guarda-Chuvas (2013) é um título fundamental na sua obra. Em que é que se inspirou para, através de uma metáfora tão simples mas tão profunda, abordar com beleza e encanto a perda de um filho?
Bem, eu não tenho bem consciência disso, faço as coisas como as sinto. Comecei por escrever este livro inspirado por uma história de [Mahatma] Gandhi, que é semelhante a esta, noutro contexto: um hindu chega ao pé de Gandhi com o filho morto nos braços e pergunta-lhe o que fazer, ao que Gandhi responde que o que tem a fazer é adotar uma criança muçulmana. Acho a história muito bonita. Não é obviamente a solução para a perda de um filho. É mais do que perdoar… Há ali, por um lado, um anel, um anseio para continuar a viver e, por outro lado, é caminhar em direção ao outro que muitas vezes consideramos inimigo e que de repente deixa de o ser pela própria circunstância de adotar alguém do mesmo grupo social ou étnico da pessoa que matou o nosso próprio filho. Não só interrompemos essa cadeia de ódio, como caminhamos em direção ao outro, o que pode funcionar para sanar uma série de problemas sociais. Baseando-me nessa história, imaginei outra noutro contexto, mais universal do que o problema entre hindus e muçulmanos, e usei-a para falar não só da perda de um filho, mas no fundo de tudo o que não podemos recuperar. À medida que vamos envelhecendo, vamos perdendo cada vez mais coisas… É uma vida de perdas, mas também de criação…
A bondade e o perdão são dois grandes temas neste livro… São dois valores com os quais se identifica?
Eu identifico-me com todos, não querendo com isso dizer que os tenha. Eu gosto muito de Platão e uma das coisas que Platão me ensinou foi que não existem virtudes sozinhas. Se me derem liberdade total e se eu for um idiota, eu tenho liberdade total para ser um idiota. Se eu for uma pessoa horrorosa, tenho a liberdade total para ser horroroso, cruel, etc. Portanto, uma virtude, para funcionar, tem de vir com todas as outras virtudes juntas. Para ter liberdade, também tenho de ser virtuoso, justo, sábio… Se eu for muito ignorante, a verdade é que depois também não saberei utilizar a liberdade que tiver da melhor maneira. Em relação às restantes virtudes, acontece exatamente a mesma coisa. Eu não posso ser totalmente bom com os meus filhos, ou seja, dar-lhes tudo o que eles pedem, por exemplo. Eu tenho de ser justo, tenho de ser sábio em relação às coisas que eles me pedem. Se eu não souber que determinada comida que eles me pedem lhes faz mal… Eu tenho de saber o que lhes faz bem e mal. É que se for ignorante, estarei a fazer uma maldade. Portanto, nós precisamos das virtudes todas. No livro Para Onde Vão os Guarda-Chuvas, até brinco com a Estátua da Liberdade, porque os EUA são um país muito focado na questão da liberdade e onde, por vezes, a mesma funciona exatamente ao contrário. É por vezes mal utilizada e leva à destruição. Lá a liberdade não é uma virtude, não é um valor absoluto. Para o ser, tem de funcionar ao lado de todas as outras virtudes.
No livro, coloca em confronto diferentes religiões. Que relação tem com a religião? É uma relação de fé ou apenas intelectual?
É engraçado, essa é uma pergunta muito ocidental! No ocidente, especialmente no seio cristão, temos muito a ideia de fé como algo cego, algo em que eu acredito sem qualquer razão envolvida. Mas, para a igreja, a fé é uma coisa racional, fundamentada na razão. Caso contrário, eu adoraria só porque sim uma chávena de café… Bem, mas a verdade é que a teologia sustenta a fé e sem isso não existiria fé. Eu acredito, porque há ali algo que sustenta essa crença. E, nesse sentido, tenho imensas fés e crenças. Já falámos da minha fé no funcionamento das virtudes em conjunto. Não é uma coisa que esteja provada, mas é uma coisa em que eu acredito. Depois há também as várias noções de divindade, de Deus, as relações com o mundo, que muitas vezes têm o seu quê de espiritual, sem necessitarem por exemplo da crença numa divindade. Há muitas maneiras de viver a religião. O que normalmente acontece comigo é que se eu estiver a falar de religião com alguém crente, esse alguém achará que eu sou ateu. Se eu estiver com alguém ateu, achará que sou crente. Enfim… Também acho que Deus tem muitas definições, dependendo de que religião estivermos a falar. Os maniqueístas, por exemplo, tinham uma ideia de Deus diferente do catolicismo. Este foi aliás um dos grandes debates na formação da igreja, porque para eles Deus não era omnipotente. E nós, quando imaginamos Deus, imaginamo-lo com as características cristãs, que não são necessariamente as mesmas para um persa, por exemplo. Erich Fromm, um filósofo, psicólogo, sociólogo, político, judeu e ateu por contingências familiares e de educação, dizia que para ele Deus era o vocábulo poético para descrever todas as virtudes. São Paulo, inclusive, no Novo Testamento, diz que Deus é amor. A maior parte das pessoas acredita no amor. E esta é uma declaração que podemos inverter: Deus é amor; amor é Deus. Tudo o que nos une é de certa maneira um princípio religioso, até porque a palavra religião significa religare, literalmente. E tudo o que separa ou que odeia traduz o mal. Podemos imaginar assim…
Quais são as suas principais referências literárias?
Eu leio tudo, tudo. De qualquer género ou subgénero. Gosto de livros religiosos e filosóficos. Muitos dos meus autores favoritos são filósofos. Também gosto muito de policiais e ficção científica, embora estes géneros sejam muitas vezes considerados menores. Aliás, eu tenho entre alguns dos meus autores favoritos de sempre autores de divulgação científica, como o Kurt Vonnegut, o Stanislaw Lem, o Ray Bradbury ou o Philip K. Dick… Também no policial, o Raymond Chandler ou o Dashiell Hammett são autores de que gosto especialmente. Às vezes, pela beleza da escrita, outras pela inteligência do enredo ou do argumento. Não gosto apenas daqueles que identificamos facilmente, como [Fiódor] Dostoiévski, [Liev] Tolstói…
Mas também leu esses, certo?
Li esses, claro! E, muitos deles, evidentemente, estão também entre os meus autores preferidos.
Gosta de poesia?
Gosto muito de poesia. E leio poesia quase por necessidade formal. É que a poesia inspira-me na prosa e permite-me fugir da prosa demasiado narrativa, apenas agarrada à descrição de factos, sem qualquer embelezamento e lirismo. Gosto de metáforas, gosto de figuras de estilo. A poesia é, para mim, por isso, um excelente combustível.
Como é que organiza a sua estante de livros, em casa?
O único critério que tenho é o facto de ter uma estante próxima com os livros aos quais volto muitas vezes, por uma questão estética, mais formal ou pela filosofia e o pensamento que eles convocam. São os livros com os quais tenho uma relação quase diária. A maior parte dos livros de ilustração, para crianças ou adultos, a banda desenhada, estão também perto de mim, porque muitas vezes preciso deles até para trabalhar. Os livros de arte e de pintura… Antes de começar a trabalhar, gosto de olhar para outros trabalhos e outros artistas, de modo a ter outro tipo de ambiente. Também faço o mesmo com a música… Quando componho, ouço outros trabalhos que espero que me influenciem positivamente.
Os países são feitos, não de fábricas de sucesso, mas de tudo o que tem a ver com a cultura. As pessoas vêm a Portugal pela natureza, mas essencialmente por tudo o que construímos culturalmente: os nossos escritores, os nossos artistas plásticos, os monumentos que temos, a nossa arquitetura… Nós só somos alguma coisa, porque temos cultura.
Um escritor/artista é um observador nato do desenvolvimento e da evolução das sociedades…
Depende dos escritores. Às vezes, a sociedade entra pouco… Há escritores muito filosóficos, com um distanciamento muito grande relativamente à sociedade. Mas eu gosto, quando escrevo, de ter essa ligação. Gosto muito de, à minha volta, descobrir novos ângulos para as mesmas coisas. Aqueles ângulos que aparentemente são comuns, mas que não são banais se olharmos para eles de outra maneira.
Mas como é que olha para a sociedade portuguesa atual?
Olho com alguma preocupação, acima de tudo, porque acho que as pessoas têm muito medo e isso leva-as a optarem preferencialmente pelas soluções de continuidade e a evitarem as mudanças. O que é normal… Se somos uma classe média confortável, lá está, temos realmente medo de perder esse conforto, mesmo que isso signifique uma sociedade mais justa para todos. O medo é eminente, é quase biológico, é o mais básico… Trata-se do medo, também, da perda da identidade. Mas é pena, porque é da entrega e da troca que vive a nossa identidade…
Como é que os responsáveis políticos poderiam fazer um melhor uso da arte e da cultura no nosso país?
Ainda ontem estive a falar sobre isso… A cultura mudaria tudo, tudo. Acima de tudo, porque ela é o grande combustível da criatividade. Se eu me cingir apenas aos números – que é uma coisa de que os nossos políticos gostam especialmente –, concluo que a cultura gera mais dinheiro do que o calçado. E se eu me cingir só a isto, deveria investir muito mais na cultura do que noutras áreas quaisquer. E porquê? Porque a cultura gera muito lucro, embora de um modo autista isso seja ignorado. Por outro lado, a cultura cria logo uma segunda camada de lucro, que tem a ver com tudo o que está à volta da cultura. Se eu construir um Guggenheim [Museum] em Bilbao (que foi pago em seis anos – é só lucro neste momento), o que eu tenho de repente é uma cidade que fica no mapa, com pessoas a deslocarem-se àquela cidade. A hotelaria, a restauração, o turismo, tudo muda. Ora, este lucro não é contabilizado, mas é muito importante. Se eu tiver uma fábrica de candeeiros, essa fábrica até pode ser um enorme sucesso, mas não vai mexer na sociedade como um todo, como o faz a cultura. Seja um museu, um festival de música, um escritor… Se calhar, muita gente vem a Lisboa para conhecer os lugares por onde passou Fernando Pessoa. E, ainda no espectro económico, há uma terceira parte que também não é contabilizada: um maior nível cultural é por si só gerador do crescimento e do desenvolvimento de outras áreas paralelas à cultura, porque uma sociedade mais cultural, é mais criativa, inventa mais, vende mais. Nós, apenas com 10 milhões de habitantes, não podemos competir com uma fábrica chinesa. Mas podemos, mesmo com os chineses, competir em criatividade. Isso está ao alcance de uma pessoa, não precisa de muita gente. E como a Europa atravessa um período de decadência, a cultura e a criatividade são as únicas coisas que de alguma maneira nos podem salvar. Eu tenho um amigo que diz que adoraria que fosse 99% do investimento global para a cultura, porque isso mudaria realmente tudo… Até porque se as pessoas têm tanto medo de perder a identidade, a cultura é a única coisa que cria a identidade de um povo. Tirando isso, não teremos muito para nos orgulharmos. Os países são feitos, não de fábricas de sucesso, mas de tudo o que tem a ver com a cultura. As pessoas vêm a Portugal pela natureza, mas essencialmente por tudo o que construímos culturalmente: os nossos escritores, os nossos artistas plásticos, os monumentos que temos, a nossa arquitetura… Nós só somos alguma coisa, porque temos cultura.
Afonso, para onde vão os guarda-chuvas?
É uma coisa que eu não sei [riso]! Esse é um dos grandes mistérios das nossas vidas, quase que contraria [Antoine] Lavoisier, que diz que «nada se perde, nada se ganha». Mas, realmente, há perdas que são verdadeiras perdas. Não se transformam em mais nada, senão numa verdadeira perda. Quando pensamos na perda de um filho, ela transforma-se em ausência e a ausência é a falta e, portanto, não é outra coisa. E isso é estranho, porque vai contra a Física, pelo menos a Física a que estamos habituados.




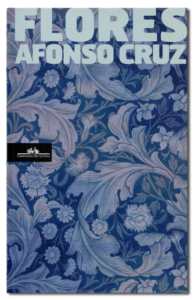









.