C orria o ano de 1992, quando viu pela primeira vez a luz. Com um nome simultaneamente feminino e masculino: Inês Francisco Jacob. Talvez incorporasse desde logo um pouco da humanidade inteira, como acontece com o próprio ato de fazer poesia, que segue como vocação. Ou, melhor, como talento, no sentido de Clarice Lispector: «vocação é diferente de talento; pode-se ter vocação e não ter talento, isto é, pode-se ser chamado e não saber como ir». Inês Francisco Jacob foi e voou, como os pássaros. Licenciada pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e pós-graduada pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, escreve desde que a memória lhe fala ao ouvido. Foi bolseira, no primeiro semestre de 2020, da DGLAB (de poesia) e tem publicados poemas nas revistas Apócrifa (Terças de Poesia Clandestina) e Telhados de Vidro (Editora Averno). Já assinou textos em várias publicações online e para teatro. Agora, pela mão da não (edições), estreia-se num livro com o extraordinário título Sair de Cena. Cada poema, cada verso, cada palavra dariam uma pergunta. Num exigente exercício de síntese, prevaleceram as próximas 9, às quais a poeta promissora nos responde como quem compõe. Como na poesia.
Sair de Cena é o seu primeiro livro. Como descreve esta experiência inaugural? É a evolução natural de uma vocação com a qual nasceu, como os pássaros, que «aprendem logo o passo seguinte/ e voam» (para a citar)?
Há muito tempo que sabia que gostaria de ter um livro “só meu”. Comecei, há anos, a escrever por necessidade e, em simultâneo, por gosto, e comecei na prosa, a criar pequenos contos, pequenas passagens líricas, a anotar ideias e a escrever em torno de um rol imenso de emoções e contextos. Cheguei até a ter um blog meio privado onde depositava, em jeito de baú, alguns textos, uns mais curtos, outros nem tanto. Mais tarde veio, de forma muito natural, como uma espécie de passagem ou ritual, a poesia. Contribuí com alguns textos para revistas, em papel e em digital, mas fiquei sempre à espera do momento em que surgisse uma obra que não tivesse de ser partilhada com outros autores. Por vezes, ia publicando alguns poemas e versos nas redes sociais, mas mantendo a vontade de, no futuro, ter uma obra tangível, uma obra que pudesse soltar-se de mim e ficasse disponível para “os outros”.
A partilha tende a ser maravilhosa, bem como a heterogeneidade de vozes e a ideia de conjunto. As obras colectivas podem ser um deleite e merecem a nossa leitura, mas pensei sempre na possibilidade de lançar um livro, sim. Talvez a grande distinção entre as obras de múltiplos autores e uma a solo seja a exposição que advém quando uma pessoa se atira, “sozinha”, a um projecto literário. A ideia de vir a lançar uma obra em nome próprio comporta certas premissas que não podem ser ignoradas, como o facto de passar a haver um público que não me conhece, leitores que não têm ideias previamente concebidas sobre mim e que vão receber o texto com imparcialidade. O alcance do livro poderá ser, em princípio, superior. Poderá haver “passa-palavra”, críticas, sugestões ou recomendações. Nunca saberei, na verdade, o alcance em todas as escalas.
Falando de vocação, não sei precisar se nasci com essa propensão, não sei se é algo com que se nasça, mas sei que nutro um amor muito grande para com as palavras e é perante as palavras – particularmente no processo da “escrita” – que encontro um conforto e um desatino muito grandes. Deparar, ao mesmo tempo, com uma fuga, uma toca, mas também com uma montra ou um megafone é um equilíbrio difícil de instituir. Não encaro a escrita da mesma forma de todas as vezes que me deparo com essa urgência (em escrever). Nem sempre é uma relação pacífica. Nem sempre é uma relação… que honre a reciprocidade. Há muitas pessoas que “escrevem bem” e que nunca chegam a ter as suas palavras disponíveis para o leitor e muitas pessoas que talvez não escrevam lá muito bem e tenham livros lançados com inúmeras cópias vendidas e com muito burburinho em tom da sua expressão. Há pessoas que nunca assistirão ao reconhecimento em vida e outras que passam a vida a tentar receber algumas migalhas de atenção.
A pergunta primordial pode ser: “por que escrevo?”. Há um livro de ensaios do George Orwell, lançado pela Antígona, em que ele remata “escrevo porque há uma mentira qualquer que quero denunciar, um facto qualquer para o qual quero chamar a atenção, e a minha preocupação inicial é ser ouvido.” Não vou dizer que sinto isto ipsis verbis, pois não sinto, mas entendo a ideia da denúncia, entendo a urgência. Hoje há muitas formas de nos fazermos ouvir que não passam necessariamente pela publicação de um livro. Mas um livro ajuda, claro.
Dos pássaros espera-se que voem (a dado momento), espera-se que cumpram essa fatalidade. O que faz um pássaro que não voa? De que lhe serve a existência? Das pessoas espera-se que, a médio ou a longo prazo, encontrem uma actividade, um ponto-de-partida (ou um ponto-de-fuga). A escrita instalou-se sempre perto de mim. Pode parecer uma ideia feita, mas muitas vezes, até de forma mais corriqueira – perante obrigações escolares, académicas, profissionais –, a escrita sacudiu e agitou o meu “chão”. E depois começamos a gostar da sensação de nos colocarmos em causa, não é? De experimentarmos. De irmos além das nossas capacidades mínimas. De explorarmos. Também surgiu, em certas alturas, com um sabor mais sublime. E as palavras estão sempre aqui, estiveram sempre lá. A sorte é poder tomá-las, remexê-las, brincar com elas, segurá-las como uma massa que posso moldar e que pode servir-me para “dizer alguma coisa”. Se calhar tenho mais vontade de dizer “isto ou aquilo” do que tenho de ser ouvida, mas talvez isto seja, por vezes, a mesmíssima coisa. E talvez eu tenha estado sempre a dizer coisas e agora fosse a altura de as guardar num livro. E ainda que não seja sempre urgente ou pertinente o que quero dizer, poder ter esse espaço e essa possibilidade tende a ser um luxo, o mesmo por poder corresponder a minha vontade ao plano real. Um livro enquanto objecto é uma substância muito concreta, isso é inegável. E esta espécie de legado ou herança (porque o objecto existe, de facto), ganha uma força muito significativa quando pensamos que o livro estará em casa de várias pessoas. Já não é uma publicação numa rede social, apenas, já não é um bilhetinho num caderno, já não é uma mensagem que enviamos, um email, uma carta, uma composição na escola.
Ouvi várias pessoas a comentar, ao longo dos anos, que eu escrevia de forma complicada, por vezes confusa, que me perdia, que me dispersava, ou professores a chatear-se comigo porque divagava nos testes e nos trabalhos. Conseguir calibrar a escrita “obrigatória” com a escrita livre, solta, aquela que me apetece ter e tomar, nem sempre foi simples. Nunca gostei de escrever por dever. Não gostava quando tinha de o fazer e quando tinha de ser avaliada por isso. E são situações do género que quase nos desviam absurdamente de tarefas que nos são caras e que precisamos de seguir. É uma saga tentar pacificar a relação que temos com o meio expressivo que é/será o da nossa eleição. Mas, bem, uma primeira vez tende a ser, por norma, memorável. Mesmo num contexto atípico como o de um ano atípico, tem sido bastante marcante. Uma verdadeira aventura, com altos e baixos, com mais ruído e com mais silêncio. E tem trazido surpresas. Tem existido como ensaio que me tem transmitido muito sobre a forma como os outros nos lêem, como agarram o que dizemos e tomam como seu, como se identificam, ou não, com os veios dos poemas. É outra escala.
Consegue, igualmente, remexer com a ideia de a poesia ser, ainda, um “bicho papão” possível ou um código elitista que não atinge todos, que nem todos merecem, que não acolhe qualquer um. Um clube de amigos, uma reunião de privilegiados. O género literário, quem sabe, mais maltratado, mais mal interpretado, mais mal recebido, mais amarrotado. Por vezes é preciso esperar… não pelo momento certo mas pelo momento que nos permite fazer algo que há muito tínhamos idealizado. Por alguma razão foram estes poemas, e não outros, e foi agora, e não antes, que o livro nasceu. O João Concha, da editora que publicou o livro, a não (edições), fez o convite e confiou-me esse apelo. E precisei do meu tempo, do meu ritmo, de chegar, sozinha, à conclusão que faria corresponder o pedido ao realizável: “Já tenho algo para mostrar. Já tenho um livro para partilhar. Já está aqui”. E o resto foi sucedendo e já há dois meses que o livro está disponível para quem o quiser apanhar.
O esqueleto do livro, os poemas, a disposição do texto, a ordem com que tudo vai surgindo, são detalhes que aparecem gradualmente, que vão tendo uma formação orgânica, tanto quanto possível, e que formam, posteriormente, a última versão da obra. A orientação do editor é, aqui, extraordinariamente essencial. É a vitalidade que ajuda a composição a encerrar-se: uma espécie de relação benéfica, em simbiose, entre arquitecto e engenheiro (se a conexão tiver dado certo, claro).
Dar a um livro o título Sair de Cena é uma boa saída para chamar ainda mais a atenção e manter-se em cena (quem sai, não avisa). Como chegou a este título, que também serve para a dedicatória inicial, dirigida às mulheres?
Gosto muito de brincar com as palavras como se fossem peças de lego, por exemplo, e pensar no corpo de um livro como se pensa numa construção com que podemos brincar e que pode ser derrubada para ser de novo erguida. A capacidade de erguer algo traz sempre muitos formatos possíveis.
Primeiro, surgiram os poemas. Depois, o título. Foi esta a ordem, mas poderia ter sido o inverso. O nome começa logo por causar, penso, um efeito provocatório (visto tratar-se de uma primeira obra). Quase ninguém pretende, ao chegar pela primeira vez a algum lado, sair quando ainda mal chegou, certo? Claro que pode acontecer, e até acontece muitas vezes, mas talvez não aqui e não agora. Para além da “graçola” instantânea, prende-se, primeiramente, com o facto de muitas pessoas sentirem que têm, de algum modo, de sair de cena, de sair do palco, de sair de uma posição com destaque para um lugar nos bastidores, para uma camuflagem, para o plano da discrição. E este plano pode surgir em vários momentos. Não é um conceito exclusivo do teatro, embora seja o teatro quem mais beneficia da “cena”, talvez, por motivos óbvios. Mas é uma imagem que me acompanha muito. No cinema a cena pode ser mais deturpada, pode ser fingida, adulterada. Mas não no teatro.
O esqueleto do livro, os poemas, a disposição do texto, a ordem com que tudo vai surgindo, são detalhes que aparecem gradualmente, que vão tendo uma formação orgânica, tanto quanto possível, e que formam, posteriormente, a última versão da obra. A orientação do editor é, aqui, extraordinariamente essencial. É a vitalidade que ajuda a composição a encerrar-se: uma espécie de relação benéfica, em simbiose, entre arquitecto e engenheiro (se a conexão tiver dado certo, claro).
Gosto mesmo muito da plasticidade presente na imagem “sair de cena” e quis, também, homenagear ou invocar pessoas e situações, reais e não reais, que se dirigissem a esse desígnio com muita agilidade. Não é por acaso, precisamente, que dedico o livro “às mulheres, as que acharam que por alguma razão tinham de sair de cena e também a todas as outras”. Este livro germinou com essa presença constante à minha frente. Nenhuma outra atmosfera ou essência esteve em causa. Eu própria já quis (ou não quis, mas tive), de sair de cena. Já assisti a muitas mulheres saindo de cena (neste sentido mais abrangente de que falo). Já vi pessoas perderem espaço, perderem a fala, verem a sua existência em segundo, terceiro, quarto plano, perderem o seu lugar. Não se ser visto, não se ser ouvido, o que é assustador e miserável, causa-nos muito mal. Pretendi, com uma mão cheia de manifestações pessoais e um punhado de circunstâncias universais, sacudir isso. Mas acaba por ser um livro que não pode (nem deve) falar em nome das mulheres. Isto é, as pessoas podem identificar-se, isso é outra história. Ou, ao invés, os poemas podem não ter efeito algum, claro. Mas não posso falar por todas as mulheres, ainda que, como acontece com tantas outras questões, consiga identificar temas que são transversais, demostrações que não conhecem fronteiras. Prefiro, assim, deixar ao critério do leitor e não permitir o surgimento de um livro de instruções paralelo ao livro de poemas, capaz de fornecer pistas sobre como devem ser digeridas as páginas.
Não me apetece sair já de cena, atenção. Também não me apetece estar aí a tempo inteiro e com todos os holofotes e chatices intrínsecas… mas quando o livro nasceu (do primeiro poema à sua última versão), quis ser fiel a essa revelação. A essa lamparina. E um título não deve ser alterado (pelo menos para mim), apenas para satisfazer massas ou para não agitar tanto, para não suscitar tanta dúvida.
Muitos poemas foram escritos a pensar em realidades pessoais, em figuras que me são próximas e em emoções que reconheci e tomei como minhas. Houve um assalto a palavras que me disseram, a paisagens que recolhi, a episódios genuínos. Não inventei isto. Não adulterei a substância e não misturei ingredientes até atingir uma distância de segurança. O que existe é o que houve e o que há.
A linha divisória do tempo a que recorre, que convoca primeiro um depois e só depois um antes, traduz a plasticidade típica do autor para se colocar no momento que mais lhe apraz?
Os poemas do livro foram escritos com a premissa de serem as “partes” de um todo. Exceptuando o poema com a alusão aos 25 anos e o poema dedicado à Maria Teresa Horta (talvez os poemas “mais fora do baralho”), todos foram escritos com uma mesma vontade e com a mesma visão de “futuro” em conjunto. E foram escritos porque, para mim, tiveram de ser escritos. Quando comecei a conceber estes textos… não imaginei imediatamente um livro “encerrado”. Não foi automático. Primeiro tive de “fazer as pazes” com a ideia de “fim”, de os imaginar juntos de uma forma em que todos respirassem e de encontrar aí um sentido para mim. Quis respeitar-me. Depois, pensei: “Pronto, eis um livro. Está terminado”. Mas será que um livro apenas se torna um se for público e partilhado? Ou posso ter um livro só para mim se assim o entender como tal?
A divisão em duas partes está presente desde o início. Gosto muito, mesmo quando não o concretizo assim, de dividir em duas ou três partes. A pouco e pouco o título foi surgindo e foi natural para mim separar em “antes” e “depois”. Aliás, numa parte os poemas receberam título e na outra parte não foram baptizados. O “antes” foi escrito em primeiro lugar e só depois veio o “depois”. Os poemas do “depois” são, de certa maneira, dirigidos de forma mais evidente a um sujeito, ou a vários, e têm uma direcção muito humana, muito pessoal. Os poemas do “antes”, por sua vez, apresentam uma linha mais geral, mais global, fornecem pistas sobre a família, sobre a rotina e o quotidiano, sobre o que é especial e o que é mundano, e podem funcionar quase como pequenas máximas ou aforismos. Também presente no “depois” há uma ideia de apaziguamento, de tréguas, da instalação de alguma paz. É como a bonança depois da tempestade ou a aceitação de que não podemos, eventualmente, vencer tudo aquilo que surge mas podemos, sim, tolerar e aceitar alguns aspectos (do que somos, do que temos, por exemplo), e viver bem com isso.
Não quis que este livro tivesse muitas amarras e não quis colocar muitos entraves na sua edificação. Mas na poesia, muitas vezes, as vozes são intemporais. Os poemas perdem poucas vezes a validade. A não ser que circunscrevamos um evento peculiar, uma data, uma efeméride, uma figura, podem navegar ao longo de anos e não fornecerem pegadas que revelem em demasia. Prefiro navegar assim e folgar os textos entre a sua linha cronológica esperada e uma estrutura in media res. E prefiro a elasticidade ao estanque e ter direito a caminhar por onde me apetecer, situar-me onde me apetecer. A minha luta é, possivelmente, para com o saudosismo ou com o “belo, mas vazio”, e esse é um vício duro de extrair. Mas mesmo perante um dilema ou um período criativo mais complexo é preciso, ou necessário, tentar identificar a parte comestível de uma atmosfera de caos. Contudo, poderá existir, verdadeiramente, “tempo” na poesia? Poderá ser medido? Captado?
O quotidiano é indispensável para qualquer manifestação artística. Talvez não indispensável para todos, mas para mim… é. Não tem de estar constantemente em grande plano e podemos até considerar que somos imunes e que sabemos passar por ele para atingir um lugar que almejamos, mas o quotidiano não nos larga como tantas vezes julgamos.
Em vários dos seus poemas, na primeira parte, dirige-se de facto a alguém, a quem trata por tu. Com quem fala, Inês?
Larguei as primeiras pegadas na prosa, como disse, e antes de me afastar concretamente do “eu”, escrevia muito mais para o “lado de dentro”. Escrevia para mim. Escrevia sobre o que se passava, sem entrar no formato diário, e de que maneira me sentia. Vendo bem, até foi um exercício muito desenvolvido na adolescência. É muito típico dessa efervescência e eu lá escrevia sobre tudo um pouco, havia tempo, havia sombra para o que me apetecesse e, aí, comecei a brincar com os sujeitos, com os tempos verbais, com os pronomes pessoais. Misturava tudo e soava-me bem, era eficaz na sua estranheza. Nunca escrevi um diário assumidamente, mas eventualmente comecei a usar mais o “tu” por achar que o “eu” traduzia uma proximidade demasiado grande. Já não me apetecia virar tanto para dentro. Pelo menos tão literalmente. E fui procurando saídas alternativas e encontrando fórmulas em que encaixasse sem desdém e sem que me sentisse pretensiosa. Claro que quando escrevemos há sempre uma parte biográfica muito forte, ainda que meio escondidinha, e eu reconheço isso neste livro (em grande escala, mesmo). Prefiro, todavia, dirigir-me à plateia de uma só pessoa (que, obviamente, poderá multiplicar-se com o livro e chegar a mais do que a um leitor), e apontar a essa entidade o que quero dirigir. Mas sem estar a ensinar, apenas dar a espreitar.
Muitos poemas foram escritos a pensar em realidades pessoais, em figuras que me são próximas e em emoções que reconheci e tomei como minhas. Houve um assalto a palavras que me disseram, a paisagens que recolhi, a episódios genuínos. Não inventei isto. Não adulterei a substância e não misturei ingredientes até atingir uma distância de segurança. O que existe é o que houve e o que há. Mas não preciso, pelo menos não quero precisar, de ser demasiado directa ou óbvia. Posso continuar a brincar entre enigmas, com algum mistério e retraimento, posso suscitar curiosidade e deixar ao “deus dará” os preceitos, as respostas finais (isto para o leitor, claro).
Não quero ter de dissecar este livro retirando-lhe todos os mistérios. É um livro, como presente nas primeiras páginas, dedicado às mulheres. Tive e tenho, felizmente, muitas mulheres na minha vida. Admiro muitas mulheres na minha vida. Houve várias mulheres importantes no meu crescimento. Há poemas em que faço uma menção ou uma referência mais perceptíveis. Uma presença que pode ser identificada se se estiver devidamente atento. Mas isto é dirigido mais para um círculo de pessoas, amigos, família, próximos de mim e que, por esse mesmo motivo, poderão ter algumas chaves para desvendar isto. Para o leitor “de fora”, um poema é um poema, e já nada é meu (nem o livro, nem os poemas), a partir do momento em que o livro foi publicado e saiu dos meus rascunhos.
Durante muito tempo dizia o que queria tomando muito espaço, dando muitas voltas, tendo muitos rodeios. Parte timidez, parte ignorância, parte receio, parte instabilidade. A idade faz muito à escrita. Quis diferenciar essa organização. Quis distanciar-me disso.
Ao longo do livro, faz uma espécie de tributo ao quotidiano, invocando a partir de aspetos prosaicos e banalidades uma chamada de atenção para ideias fundamentais. É a consolidação de um conjunto de conceitos que a Inês já fez sobre a própria vida?
O quotidiano é indispensável para qualquer manifestação artística. Talvez não indispensável para todos, mas para mim… é. Não tem de estar constantemente em grande plano e podemos até considerar que somos imunes e que sabemos passar por ele para atingir um lugar que almejamos, mas o quotidiano não nos larga como tantas vezes julgamos. O quotidiano é, por si só, uma versão boa e polida, creio, da rotina. Recorda-nos da rotatividade em que nos encontramos e permite-nos encaixar, se assim o quisermos, em caminhos que se tornam muito familiares e presentes e, claro, parte de nós. O quotidiano merece todas as homenagens. É um fio que está todos os dias aqui, a nosso lado, que nos guia ou que nos confunde. Mas não podemos passar sem ele, mesmo que nos instalemos numa imensa inércia. E é também no quotidiano que residem, justamente, as pérolas que passam despercebidas primeiro, mas que, por vias da repetição ou, quem sabe, da surpresa, ganham novos contornos. Os transportes públicos, por exemplo, são espaços plenos de acontecimentos. Encarar uma viagem de metro ou de autocarro com uma careta, que é, talvez, o gesto mais comum, “que chatice”, distrai-nos de reparar por aí além e de recolher informação que pode dar-nos muito.
Há pérolas todos os dias. Pérolas entre pedras, todos os dias, a toda a hora. Embora as pedras também tenham a sua importância, claro, e também sejam matéria-prima necessária. Estejamos mais confortáveis nas rotinas, ou mais instáveis e impacientes, não posso negar como as manchinhas banais do dia-a-dia são grandes plataformas de arranque. Laivos de minimalismo também servem, e serviram, para conseguir dissecar melhor o que me apetecia dizer. Mas uma carruagem de comboio forma filmes, forma romances, forma poemas, forma frases e palavras. Depende muito de como queremos e do que queremos agarrar com maior firmeza. E, claro, depende muito de como nos sentimos nesse período em particular. Os lugares passageiros e temporários, como os transportes, também servem para nutrir e para alimentar as concepções sobre a vida, as mais existenciais e as que têm resposta na ponta da língua. Chico Buarque canta em “Cotidiano” sobre o mundano e terreno do virar dos dias de uma mulher, do acordar ao deitar e de tudo o que reside no meio, e canta sobre o “que se faz sempre igual”, mas custa-me muito acreditar que no quotidiano existam repetições autênticas. Acho que há, ao invés, semelhanças, vícios, tendências, mas nunca chegam a ser repetições. Creio que a ser repetições teriam de ser idênticas e o que vejo são aproximações.
Talvez as ideias fundamentais tenham sido já todas içadas e estejamos agora perante a reinvenção e a adaptação de bandeiras já existentes, mas quis limar (sem reprimir), o texto. Quis dizer o que queria dizer sem me instalar em subterfúgios. Durante muito tempo dizia o que queria tomando muito espaço, dando muitas voltas, tendo muitos rodeios. Parte timidez, parte ignorância, parte receio, parte instabilidade. A idade faz muito à escrita. Quis diferenciar essa organização. Quis distanciar-me disso. Nesta primeira obra a solo também desejei colmatar alguns obstáculos muito presentes nesse dito passado (literário) e posso ter sido mais experimental, mais polida, mais sintética. Não consigo ainda precisar estes modelos. Talvez daqui a uns tempos, em retrospectiva, possa avaliar isto mais eficazmente.
No poema “campânula de vidro”, faz um apelo: «não encomendes as dores que não conheces/ guarda as tuas numa redoma/ para quando um dia/ precisares de a partir». Podemos estar, a propósito desta redoma, perante uma boa analogia para o papel da própria poesia? Como olha para a poesia, afinal?
Acho muito assustador quando chegamos a um ponto em que constantemente reciclamos dores. Não falo da indiferença ou da ausência de compaixão, mas falo de tomarmos as dores que não são nossas. Ou de entrarmos numa espiral com as nossas. De as dobrarmos em várias até não podermos mais.
Embora as minhas referências imediatas sejam, muitas vezes, pessoas mais velhas (ou mortas), há poesia contemporânea que considero admirável, valiosa, acutilante, reveladora. Não sinto que tenha de escolher uma em detrimento de outra. Sinto que posso apreciar aspectos e traços em ambas. Estou em paz com a poesia (enquanto género), pois a comichão que posso eventualmente sentir está mais presente nas directrizes e nos vícios e menos nas palavras e na estética. E gosto de crer que a poesia está em boas mãos. Muitos acharão que não. Talvez tenham razão, talvez não, não sei bem. Mas não quero acreditar que isso possa ser uma decisão já tomada e definitiva e que não possa ser remexida por várias vezes e por várias gerações. Volta e meia aparecem vozes que têm uma dimensão espantosa. É como tirar uma maçã de um cesto de maçãs e sentirmos que é a melhor do cesto. A mais suculenta, a mais doce. Há achados, há fenómenos pouco duradouros, bem… há de tudo.
Em relação à ideia da redoma como analogia… há poetas que podem cobiçar ou admirar profundamente a voz de outros e que, por isso, andam confusos e à procura de um rumo próprio. Mas é legítimo, acontece. E acontece muito quando estamos nessa busca por uma voz que identifiquemos como nossa e apenas nossa, mesmo com os rios transversais de múltiplas referências e presenças que se cruzam na nossa vida. E é ainda mais legítimo encalharmos nessa teia em que, ao admirarmos tanto um criador, queremos mais conscientemente, ou menos, tomar para o nosso trabalho elementos que aos nossos olhos sejam pertença desses nomes que apreciamos, que amamos, que nos fazem sentir o sobressalto profundo do arrebatamento. Na poesia, não só, claro, mas especificamente na poesia em Portugal, vejo um terreno muito competitivo. Se calhar não é na poesia em si, mas na edição do género. Creio, e digo isto até enquanto leitora, que existe uma espécie de debate aceso, embora muitas vezes não visível, entre quem escolhe quem, quem lança o quê, quem lê quando, e por aí fora… e o nicho vai andando às mordidelas e aos empurrões. O mundo editorial pode tornar-se tóxico, sobretudo se se olhar para essa esfera como uma manifestação puramente mercantil. E entre clubes de amigos e escolhas estratégicas… por vezes não se consegue separar o trigo do joio e acaba a dar-se destaque a quem não oferece nada ou a quem ganhou relevo por meio da controvérsia e não do mérito.
Apesar de tudo… olho para a poesia com assombro, tal como olhamos para o que admiramos e nem sempre compreendemos bem, como a trovoada ou o mar, mas, com redoma ou sem redoma, não é muito saudável não cuidar devidamente das dores. A poesia ajuda, e muito, mas não é nem medicação, nem antídoto, nem poção mágica, nem uma relação humana. É, antes, uma hipótese de caminho, uma hipótese de chegada. Uma hipótese.
O poder da síntese é um poder que nunca me pertenceu. Mas a vida real esteve sempre plena de pequenos detalhes prosaicos. Partir deles para alcançar uma concepção “maior” pareceu-me uma ideia indicada para mim. Obras grandiosas tendem a partir das ideias mais tenras e terrenas, como a imortalidade, a família, a maternidade, a saudade, o medo, o amor, o ódio, por exemplo, transformando o que a humanidade vive e conhece (de sempre) em algo que pode sacralizar-se ou repercutir-se no tempo. Sei o insuficiente sobre a vida, talvez, mas haverá tempo para ir pescando mais corpo. Sei ainda pouco sobre a poesia, talvez, mas permito-me a esse crescimento. Dou-me o benefício da dúvida. Não escrevo como há 10 anos, e ainda bem. Talvez não vá escrever daqui a 10 anos como agora o faço, também. E ainda bem. Terá de instalar-se alguma verdade no meio disto tudo, espero.
Os avós ajudam muito a compreender os nossos pais e isso ajuda-nos muito a ver os trejeitos que podemos adoptar ou rejeitar. Nessa observação que foi sempre próxima, familiar, íntima, há também um olhar mais profundo em que, mesmo sem notar, estou a absorver muita substância para poder manifestar-me.
Num outro poema, já na segunda parte do livro, fala-nos de uma ideia repetida pela sua avó: «o tempo cura a ferida/ mas não cura a cicatriz». Fale-nos da influência desta avó na sua vida, na sua criatividade.
Se referi as mulheres como peças centrais do livro, não posso deixar de referir as minhas avós. Tenho a sorte de ainda ter as minhas duas avós e de privar muito com ambas. São muito especiais para mim e muito distintas uma da outra. E são justamente essas personalidades tão distintas que me serviram tantas vezes de exemplo e testemunho. Ainda hoje, claro. A história de cada uma e os próprios ensinamentos e conselhos que comigo partilharam ao longo dos anos foram ganhando pedestais na minha memória e são marcas que poucas pessoas conseguem gerar. Para além da sorte de as ter perto, de as ter tão lúcidas e tão expeditas, é também ao olhar para elas que vejo uma possibilidade de futuro. É irónico ver o futuro e não o passado, visto serem mais velhas e mais experientes (o que nem sempre vem a par), mas o que é certo é que posso ambicionar certos traços ou qualidades quando as encaro com atenção. Os avós ajudam muito a compreender os nossos pais e isso ajuda-nos muito a ver os trejeitos que podemos adoptar ou rejeitar. Nessa observação que foi sempre próxima, familiar, íntima, há também um olhar mais profundo em que, mesmo sem notar, estou a absorver muita substância para poder manifestar-me.
A avó em causa, nesse poema em particular, é a materna. A ideia da ferida é muito presente aquando das perdas, sobretudo, de entes familiares. A passagem pela vida como isso mesmo, uma passagem, não deixa de interferir com a saudade que se alaga e agarra a nós. E não é por reconhecermos que todos somos mortais… que a própria morte cessa de nos surpreender. Por convivermos até nos podemos habituar, mas é sempre uma surpresa quando chega perto demais. E a própria imagem do tempo, na companhia e na experiência destas duas mulheres, tem imensos significados. Uma ferida pode não deixar cicatriz, mas quando deixa somos capazes de recordar a dita ferida que abriu e que entretanto marcou, talvez para sempre, um carimbo. A minha avó materna recorda-me afincadamente a presença desse espaço, em todos os seus contornos, e recorda-me das cicatrizes. O que está em torno dela também o faz. Os espaços, as paisagens, a linguagem, os sabores, a aridez e a brandura em simultâneo, a memória. Esse núcleo foi sempre especial para mim, e, inevitavelmente, para a minha escrita. Há várias ambiências, aromas, texturas, no livro e não só, que são provenientes desse lugar (o da pessoa e o do espaço geográfico). Por isso, não há como separar a criatividade da criação no que diz respeito àquilo que os sítios e as pessoas fazem por nós e fazem de nós. Sem o efeito das minhas avós não sei se a minha escrita não seria diametralmente oposta.
Maria Teresa Horta, a quem dedica o último poema, respondeu-lhe? O que lhe tem dito ela a propósito da poesia?
Esse poema foi o último a ser escrito e o último a ser parte oficial do livro. Hesitei sobre o seu lugar e pus em causa se seria esse o espaço certo. Depois, pareceu-me óbvio, mas não foi imediato, não. Foi um poema escrito em Maio de 2019 no final de uma sessão do “Clube dos Poetas Vivos”, projecto que tem lugar mensal no Teatro Nacional D. Maria II. Esta iniciativa, uma parceria do Teatro e da Casa Fernando Pessoa, é coordenada por uma amiga, actriz, que sabia como era importante para mim assistir a este género de evento, na medida em que me poderia colocar em confronto saudável comigo, e também por me dar a conhecer um pouco a montra dos poetas portugueses que estão ainda vivos. Quando fui assistir a essa sessão, tal como assisti a tantas outras, o impacto da conversa foi, então, muito gritante, muito declarado. Saí de lá um bocado agitada, confesso, com vontade de ser mais reivindicativa, de escrever com mais firmeza, de ter um propósito mais definido. Se calhar é o que acontece quando escutamos pessoas que já viram muito ou que já passaram por muito, a juntar à diferença de idades e gerações, às expectativas, às histórias de vida… bem, foi um encontro muito especial, e ficou-me mesmo, grudou algo em mim.
Tenho o hábito de, sobretudo quando sinto o impacto de alguém ou de um acontecimento, tirar notas. Posso fazê-lo à mão e, talvez mais repetido nos últimos tempos, no telemóvel. E foi o que fiz. Saí do Nacional e comecei a escrever no telemóvel o esboço de um poema dedicado à Maria Teresa Horta. Foi uma questão de meia-dúzia de minutos. Mas não, não nos conhecemos pessoalmente, nunca fomos apresentadas. Aliás, é até irónico que sejamos “amigas” no Facebook, mas isso é porque a página da Maria Teresa, apesar de privada, não é muito selectiva, imagino, e só porque nos temos ambas nos contactos não significa nada. Isto de o Facebook denominar os contactos de “amigos” tem muito que se lhe diga… Mas bem, respeito muito o trabalho da Maria Teresa. A par das outras duas marias, Maria Velho da Costa e Maria Isabel Barreno, claro. Tenho por essa tríade um gosto muito especial. Há um poder de encaixe quase imortal, que é muito revolucionário, e não posso ignorar os feitos destas mulheres. Não posso ignorar o impacto da sua escrita, antes e agora, em mim e em várias outras pessoas. Olho para as “Novas Cartas Portuguesas” como uma obra basilar e central. Sinto até uma certa inveja de alguns textos lá presentes, tão brilhantes, tão acabados, tão precisos. Há, pelo conteúdo e pela forma, muita força nessas páginas. E sinto que deve ser lido pelo menos uma vez na vida. Por isso, o poema dedicado à Maria Teresa acaba, também, por louvar as suas companheiras e por glorificar outras mulheres, anónimas, que elevaram os punhos com a mesma energia e vontade. Que quiseram tão-somente… escrever à vontade.
Não sei se a Maria Teresa leu o poema. Duvido. Na altura em que o escrevi até o partilhei na minha página de Facebook, mas não creio que o tenha visto. Acho que nessa altura ainda não nos tínhamos adicionado e acredito que ela tenha mais a fazer. Só se alguém, por acaso, teve a iniciativa de o mostrar, mas duvido. Talvez a Maria Teresa o leia um dia destes. Gosto de a ler, mas admito que há um encanto extra nessa disposição devido à circunstância e contexto da autora. Se calhar o encanto sobrepõe-se ao resto. A sua figura acaba por pertencer a uma espécie de mitologia e por fazer parte de um imaginário que, a mim, me interessa muito. E é preciso olhar para estas pessoas enquanto estão vivas. É preciso que as pessoas, enquanto vivas, reconheçam a admiração e a procura que outros nutrem. Caso contrário, de que serve a fama… sem o proveito? É possível que a ideia que tenho da Maria Teresa Horta seja uma ideia minha e não necessariamente uma atribuição directa à mulher real, de carne e osso. Mas também não tem mal termos alguns ícones e encararmos as pessoas com carinho e consideração. Ensina-me, ainda que talvez num plano abstracto, que o medo não nos leva a lugar algum. Que o medo é repressivo e abafa as palavras, tira-lhes o ar. E ajuda-nos a relembrar, também, que os tempos que vivemos são óptima matéria-prima para deles tirarmos algum sumo e para com eles enchermos o copo dando-nos de beber.
Do ângulo da sua juventude, como olha para o futuro?
Existem, no mínimo, dois planos. O pessoal, ou seja, o que pode ser o meu futuro directo, e o não-pessoal, o futuro do mundo como o identificamos. E não sei se existe, para já, uma correspondência entre ambos. Sinto que numa primeira instância olho com esperança. Mas isto pode ser um engodo para me fazer acreditar num futuro feliz e próspero. Nem sempre a esperança serviu para um bom resultado, às vezes sustentou apenas entretenimento. É possível que a tendência incline para uma conjectura mais pessimista mas que, como um puxão de orelhas, tenha ganas de puxar para um lado mais alegre. Um pouco como o que achamos que eram as danças da chuva ou a própria ideia de “o que imaginamos e desejamos é o que atraímos”. Também olho com muitas suspeitas e por vezes com uma leitura algo cínica, algo clínica. Estão sempre a acontecer coisas más, coisas tremendas, desastres e terrores. Se estivermos vagamente atentos… não há um único dia em que não possamos pescar uma má notícia. Mas também o seu oposto, claro. Também as boas notícias estão aí. Calibrar é o mais raro.
Há alguém que esteja verdadeiramente no centro destas previsões? Mas quero continuar a escrever, claro. Este livro não alterou essa premissa, pelo contrário. Já escrevia antes e vou continuar a fazê-lo. O livro pode trazer, eventualmente, algum ruído, mas também isso pode ser passageiro. Não procuro instalar-me com firmeza. Pelo menos não penso nisso assim. Se as pessoas quiserem ler, que leiam. Se não quiserem ler, não tenho como alterar isso. Quero ter mais livros e livros não apenas de poesia. Gostaria muito de ter um livro de contos e, quem sabe, um romance. Não sei bem se seria um romance, não sei se não me perderia pelo meio, mas sempre quis escrever um romance. Acho que sempre quis escrever uma obra “grande”, no sentido de ser volumosa. É um bocado irónico pois agora tenho escrito poemas de perna mais curta, mas quem sabe um dia… foi sempre uma ideia de criança.
Despeço-me com Daniel Faria:
Diário
Seja o que for
Será bom.
É tudo.









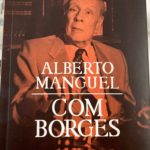




.