Chegado o último dia de 2016, e seguindo o estilo aqui introduzido há precisamente um ano, faço o balanço dos livros que li, os mesmos que foram enriquecendo os meus dias, as minhas conversas, a minha forma de pensar e olhar.
À cabeça, posso dizer que li pela primeira vez três novos autores, de três diferentes nacionalidades: o italiano Antonio Tabucchi, o peruano Mario Vargas Llosa e o francês Michel Houellebecq. Tenho como adquirido que quero ir percorrendo os autores das várias naturalidades, porque a geografia também forma o pensamento e desenha os cânones culturais. E dessa diversidade, também a nossa nasce. E se os livros que li dos dois primeiros me foram oferecidos, o do terceiro autor surgiu em sede de clube de leitura que um grupo de leitores amigos decidiu este ano institucionalizar em nome da leitura e da amizade.
De Antonio Tabucchi, li Noturno Indiano, que nos surge à partida como um livro de viagens e essa tese é até confirmada numa das primeiras páginas, no índice dos lugares percorridos pelo protagonista, com destaque para Bombaim, Madrasta e Goa. Entramos na história e rapidamente somos postos defronte de um narrador-personagem embrenhado numa peregrinação à procura de um português que ter-se-á perdido na Índia. E eis que começa uma saga identitária, a lembrar simbolicamente a busca que todos fazemos em torno da nossa própria identidade, ficando a Índia, os riquexós, rupias e vinhos importados relegados para um plano completamente secundário.
De Vargas Llosa, fui recuperar A Civilização do Espetáculo, que ganhei no meu aniversário em 2016. E que estreia! O autor peruano, Prémio Nobel da Literatura, faz aqui uma radiografia duríssima sobre a cultura, classificando a civilização do espetáculo como aquela em que «o primeiro lugar na tabela de valores vigente é ocupado pelo entretenimento e onde divertir-se, fugir ao aborrecimento, é a paixão universal». Hoje, fica por saber exatamente como se define cultura, por ser simultaneamente esse pouco de tudo e esse pouco de nada que fizeram desaparecer a figura do intelectual/pensador que estruturou todo o século XX.
Ainda de Vargas Llosa, li este ano o romance Cinco Esquinas, que recria os piores anos do regime autoritário de Alberto Fujimori (1990-2000), lembrando que as situações limite, como as ditaduras, aguçam nos homens os seus piores instintos. É com este argumento que o autor dá o pontapé de saída para a narrativa, com o epicentro colocado em duas mulheres que pernoitam juntas, despreocupadas das horas de recolher obrigatório, típicas da ditadura… Logo se desencadeia uma teia fatídica que ameaça escarrapachar a vida privada nas parangonas dos jornais, com manobras de bastidores ao serviço dos interesses políticos.
Do francês Michel Houellebecq, esse temerário pensador amado e odiado em França, li Submissão, a projeção para 2022 de uma Paris onde um professor universitário de literatura do século XIX, desencantado da sua rotina académica, acompanha umas muito sui generis presidenciais. Este romance dá-nos uma interessante ferramenta para a reflexão sobre o sistema político instalado nas democracias ocidentais e a dicotomia Ocidente/Oriente.
2016 foi também o ano em que repeti quatro autores: Ana Margarida de Carvalho, Carlos Campaniço, Clarice Lispector e José Tolentino Mendonça. Sou incansável seguidora e anónima aprendiz de Tolentino Mendonça. Sou dependente fervorosa da obra e da história de Lispector. Sou, ainda, uma admiradora do enorme talento de Ana Margarida de Carvalho, cuja obra recente acompanho ao detalhe, convicta de que Portugal tem nesta autora uma das melhores escritoras surgidas na atualidade. Sou, por fim, amiga, e também admiradora, de Carlos Campaniço, o autor alentejano que tem vindo com muito afinco, vocação e brilhantismo a consolidar uma carreira literária com prémios e aplausos de norte a sul, do interior ao litoral.
Pai-Nosso que estais na Terra foi o livro que li este ano do padre, poeta e original autor: José Tolentino Mendonça. A ele volto todos os anos e todas as semanas, na sua crónica regular na revista do Expresso “Que coisa são as nuvens?”. Este livro em concreto consiste num guia, para crentes e não crentes, da oração cristã nevrálgica, o Pai-Nosso. O autor explica que é através da oração que melhor podemos colocar em prática a real vocação da linguagem: a relação entre as pessoas. Através dela, exercitamos como de nenhum outro modo a escuta e o acolhimento.
Outra autora à qual volto sempre que posso é a inigualável Clarice Lispector. Em 2016, li A hora da estrela, que é uma autêntica pergunta. Um narrador, Rodrigo S.M., não só introduz paulatinamente todos os elementos da narrativa, como divaga em intensa medida sobre a arte de escrever e o inerente processo criativo: «Não, não é fácil escrever. É duro como quebrar rochas». Injetando na estrutura narrativa uma profundidade psicológica arrepiante, tanto mais arrepiante quanto se refere a factos ficcionais aparentemente comuns, A hora da estrela relata a história de uma pobre nordestina, órfã, virgem e tremendamente solitária. Sem ser vista nem achada, muda-se sem alternativa para a grande cidade do Rio de Janeiro, onde se instala numa casa partilhada com três outras mulheres e onde se estabelece como datilógrafa. Sem qualquer consciência de nada, miserável, carregada de fealdade física e espiritual, sem atributos intelectuais, alienada. Nunca percebe o que se passa à sua volta, até chegar a sua hora da estrela.
Li também Não se Pode Morar nos Olhos de um Gato, de Ana Margarida de Carvalho, galardoada pela Associação Portuguesa de Escritores com o Grande Prémio de Romance e Novela com o seu romance de estreia Que Importa a Fúria do Mar. No novo livro, cujo título recupera um verso de Alexandre O’Neill, é-nos dada a narrativa do naufrágio de um navio clandestino de escravos, que seguia entre a Baía e o Rio de Janeiro, num Brasil onde a escravatura já começava a distanciar-se, com o dealbar do século XIX à porta. O grupo de náufragos, já numa praia intermitente, dependente do movimento da maré, faz-se representar com diversidade certeira (definida com pinças pela autora) por um capataz, um escravo, um criado, um padre, um estudante, uma afidalga, a sua filha e um pretinho a iniciar-se na capacidade de andar.
A terminar o ano, voltei a um outro português, Carlos Campaniço, um dos autores revelação dos últimos anos em Portugal. Dele li este ano o seu mais recente romance, As viúvas de Dom Rufia, que da centralidade de um velório completamente inesperado, nunca saído de cena, prossegue para uma multiplicidade de histórias de amores, querenças e intrujices, saídas de uma mesma cabeça, a de um protagonista nascido pobre no interior alentejano, mas com aspirações pertinazes e irreversíveis de riqueza. Com a criatividade prodigiosa a que Campaniço já nos habituou.
Mas passam para 2017 muitos, muitos outros títulos na calha, a aguardar a minha atenção. Ainda outro dia, passeando pela Rua Nova da Trindade, entrei na Livros Cotovia e de lá vim com um pacote cheio: o brasileiro Marcelo Mirisola, com os seus dois únicos títulos publicados em Portugal (ainda pela mão do saudoso André Jorge), um outro brasileiro, Milton Hatoum, o ensaísta, crítico literário e tradutor português João Barrento. Estão todos já na minha vontade. E assim prossigo na linha do aclamadíssimo Jorge Luis Borges, que tanto endereçou a glória aos livros lidos, muito mais que aos escritos.





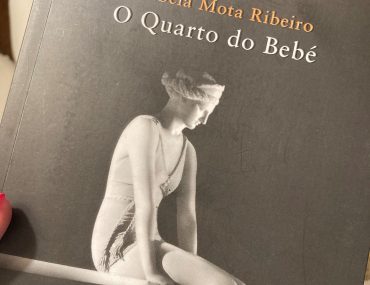


.