A igualdade, porventura um dos mais controversos ideais sociais, é alvo de debate, conflito e discórdia desde a Grécia Antiga, razão de avanços e recuos, posições interessadas e interesseiras, conveniências e, até, ignorância atroz. Também o seu antónimo, a desigualdade, tem vindo ao longo dos séculos a suscitar uma mesma dose de polémicas. Eventualmente, pelas mesmas motivações. Quer a igualdade, quer a desigualdade, partem afinal do pressuposto de que há entre os homens diferenças. E as mesmas diferenças podem servir, afinal, argumentos para a igualdade e a desigualdade. Por um lado, a diferença é a materialização da diversidade e a evidência de que o ser humano não é laboratorial, é único e inigualável, mas, ao mesmo tempo, igual em direitos face ao seu par. Por outro lado, é pela constatação da diferença e o pressuposto da diversidade, ancorados na perceção egoística de que a “minha” diferença é mais legítima do que a do outro, que surge uma cegueira vigorosa face à legitimidade e à própria legalidade da igualdade.
Percebamos, contudo, que igualdade e diversidade convivem indissociáveis. Tanto mais quando nos damos conta de que pensar a igualdade implica integrar o conceito num espetro mais amplo e não apenas cingido às questões recorrentes e gastas do género, da raça ou sociais. Essa reflexão apresenta-se, assim, muitíssimo ampla e inclui pontos de vista históricos, sociológicos, culturais, setoriais… Aliás, uma das componentes mais interessantes da existência humana é a diferença entre os homens, o que não significa desigualdade. E essa diferença seria apenas esbatida e eliminada num contexto de laboratório, onde a garantia da igualdade seria pois completamente imaculada. Mas aquilo a que a igualdade se opõe é à desigualdade, não à diferença, a qual cristaliza as especificidades e a essência de cada um.
Um olhar sobre a história
Ao analisarem sociedades caçadoras-recoletoras da atualidade, muitos antropólogos identificam nelas indícios de desigualdade e, até, estruturas bastante hierárquicas típicas das comunidades humanas dos primórdios. Na Antiguidade Clássica, porém, um novo formato de governo, assente em eleições e na partilha de poder dava à Grécia do século VI a.C. o epíteto de berço da democracia. Aí nascia, porventura, uma aproximação da concretização efetiva da igualdade, não fosse o ideal encontrar-se desprovido de uma total coerência ao excluir mulheres, estrangeiros e escravos. A igualdade ateniense, que viria a dominar o pensamento político da Antiguidade, estava limitada a uma minoria. Os dois maiores pensadores gregos, Platão e Aristóteles, olhavam para a desigualdade e a hierarquia como perfeitamente normais. Mais do que isso, desejáveis. A classificação aristotélica, porém, conheceu contraditório firme no estoicismo, que apontou pela primeira vez na tradição filosófica a igualdade como um valor universal e desejável, visão absorvida nos escritos de São Paulo, numa clara afinidade com o pensamento estoico. Também do lado romano, o estoicismo ganhou adeptos, tendo Cícero e Séneca sido os seus mais entusiastas seguidores. Séneca, contudo, rapidamente deu a entender que para si a igualdade, afinal, seria apenas teórica, abrindo a brecha desde logo no campo do género ao considerar as mulheres imprudentes e coléricas, apenas preparadas para obedecer a quem tinha manifestamente poder: os homens.
Centramo-nos no Iluminismo do século XVIII, por exemplo, e logo percebemos como a igualdade não era ideal fundacional nenhum, posicionando-se a desigualdade humana como corolário universal. Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) foi, pois, apologista de que a questão fundamental não seria a igualdade, mas o seu contrário, a desigualdade, na medida em que nascendo os seres humanos exatamente iguais, teriam de ser explicadas as razões pelas quais se impunha, afinal, a desigualdade.
Ainda antes das revoluções liberais americana e francesa, surgia pela mão de Mary Wollstonecraft, em 1772, um dos textos fundadores do feminismo: Uma Defesa dos Direitos da Mulher. Ao abrir a Declaração da Independência dos Estados Unidos (4 de julho de 1776) com a bandeira bombástica de que os homens nascem todos iguais, Thomas Jefferson desencadeou a pólvora ao dar como certa uma ideia que não estava, então, ainda, dada a concordâncias. A própria Revolução Francesa (1789), assente no ideário trinitário Liberdade, Igualdade e Fraternidade, não garantiu na implementação dos seus ideais a igualdade para todos, talvez porque nem sequer chegou a conseguir definir as suas reais fronteiras.
Apesar de vários e significativos avanços, sabemos que os últimos 500 anos não foram pródigos em igualdade, sobretudo se nos debruçarmos sobre processos de tráfico de escravos, nomeadamente imputados ao colonialismo português, que acentuaram declaradamente a incapacidade de enraizar a igualdade. No rescaldo da Segunda Guerra Mundial, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada em 1948 pelas Nações Unidas, veio dar novo ímpeto à igualdade, que tendeu a enraizar-se perante a lei. Na prática, contudo, conhecemos exemplos recorrentes de desigualdades económicas e sociais que a lei não impede e a sociedade não escrutina.
Vanguarda artística que exclui
Se nos centrarmos no campo da música, lançamos o olhar sobre a primeira metade do século XX e constatamos que nas principais orquestras internacionais a mancha de músicos foi sempre composta por homens, tendo apenas conhecido uma pequena inversão com o pós-guerra. A partir das décadas de 1940/1950, vários fatores começaram a confluir para desencadear a entrada das mulheres em fóruns tradicionalmente destinados aos homens: a feminização do trabalho, transformações profundas na educação, circunstâncias de igualdade na política, direito ao voto, entre outros. Esta evolução teve também repercussões nas artes, concretamente na música. Em 1952, a Boston Symphony Orchestra afirmou-se como a primeira orquestra no mundo a aderir às chamadas audições às cegas (blind auditions), com o objetivo de impedir recrutamentos tendenciosos e criar o máximo de condições de igualdade. A partir daí, verificou-se uma acentuação da entrada de mulheres no meio. Um estudo de 1997 publicado pelo National Bureau of Economic Research, da autoria de Claudia Goldin e Cecilia Rouse, espelha que houve efetivamente um salto muito significativo na constituição das grandes orquestras internacionais: 10% de mulheres, em 1970, para 35%, na década de 1990. Choque total pode causar-nos, todavia, a famigerada Filarmónica de Viena, que só integrou pela primeira vez mulheres em 1997 e, em 2013, apenas contava com seis. Em Portugal, podemos regozijar-nos na medida em que a orquestra da Fundação Calouste Gulbenkian recorre a audições às cegas, como garante de um naipe orquestral mais justo e sério, a todos os níveis.
Também na pintura podemos recolher evidências de desigualdade e para tal recolha em muito terá contribuído o posicionamento ativista das Guerrilla Girls, mulheres anónimas carregando uma máscara de gorila, e que, em 2016, endereçaram um e-mail a perto de 400 diretores de museus europeus com as perguntas: «qual é a percentagem de mulheres artistas no seu museu ou na sua coleção, e na programação das exposições temporárias? Qual a percentagem de artistas não brancos? As respostas, que terão sido surpreendentes, corroboram o papel fundamental que as Guerrilla Girls têm vindo a desempenhar na denúncia de mecanismos subtis de discriminação e atentado à igualdade. Em 1976, as historiadoras de arte Linda Nochlin e Ann Sutherland Harris, organizando em Los Angeles uma célebre exposição sobre artistas mulheres entre 1550 e 1950, rapidamente confirmaram a ausência e o vazio da representatividade das mulheres ao longo de séculos e séculos que votaram o feminino à inexistência. Filipa Lowndes Vicente, no seu artigo “Artes, a ilusão da vanguarda”, publicado na revista da Fundação Francisco Manuel dos Santos, XXI – Ter Opinião, diz que «(…) a identidade de uma artista esteve sempre condicionada pela sua identidade enquanto mulher». Neste artigo vem à conversa também o próprio MoMA, efetivamente icónico na representação dos modernismos, mas que não foi capaz de integrar muitas das mulheres dos modernismos representados. Mas nem só de discriminação, felizmente, se faz a gestão museológica. Este ano, as “Tates”, lembra-nos Filipa Lowndes Vicente, «(…) passaram a ser dirigidas, pela primeira vez, por uma mulher, Maria Balshaw, tal como a Tate Modern tem à frente Frances Morris desde 2015, uma curadora que assume a valorização de mulheres artistas».

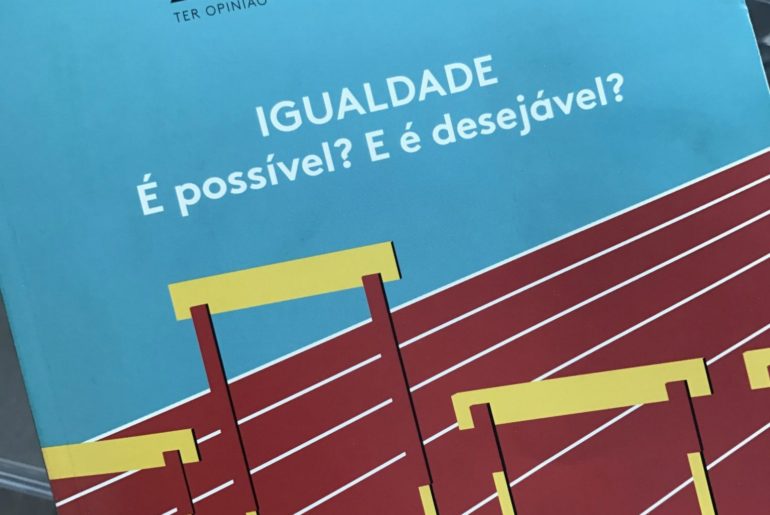


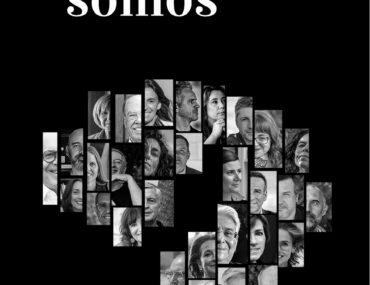



.